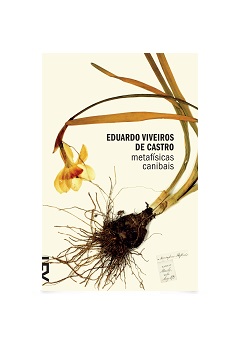A pesquisa antropológica faz, de seu objeto de estudo, o próprio paradigma de seu trabalho: é a tese que defenderia o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, num livro, cujo título seria “O anti-Narciso”, que, porém, jamais conseguirá concluir, tese, esta, que mostra a antropologia como uma versão das práticas de conhecimento indígenas que lhe serviram de estudo.
Se o perspectivismo conceitualiza a visão abstrata que os povos indígenas têm da natureza, perspectivando-a humanamente, pode-se, a partir da discussão, analisar a teia de relações estabelecidas entre espelhamentos e apropriações de lógicas, bem como de maneiras de se conhecer o mundo, o outro e o próprio eu – individual ou social.
Nosso guia segue apenas uma das trilhas sugeridas por Viveiros de Castro.
A inconstância da alma selvagem foi a publicação que reuniu pela primeira vez em um único volume toda a trajetória intelectual do antropólogo até então [2002]. Os ensaios de Viveiros de Castro, em grande parte centrados nas sociedades amazônicas, analisam o pensamento indígena, através de um forte diálogo com a filosofia. Nestes escritos encontra-se o original conceito de “perspectivismo” – que diz respeito à concepção de que animais e espíritos ocupam legitimamente a posição de sujeitos. O perspectivismo ameríndio confere aos animais existência cultural, porém a partir de uma confluência de perspectivas, cujo ponto em comum é a subjetividade; pois os animais, assim como os humanos, veem-se como humanos – ainda que não vejam os humanos como animais. A questão, portanto, é posta como variável de acordo ponto de vista. A alteridade é vista sob diferentes formas estabelecidas por relações.
Conforme sintetiza, em resenha publicada na revista Mana, o professor da Unicamp Mauro W. Barbosa de Almeida: “A Inconstância, lembremos de novo, não é um tratado: é um livro de ensaios em movimento, que deixam à mostra o processo de descoberta. Um dos exemplos é que vemos primeiro o tema de uma pancosmologia ameríndia emergir no fascinante estudo dos modalizadores ontológicos yawalapíti (cap. 1); observamos, então, o jogo de perspectivas instáveis no diálogo do matador e da vítima (cap. 4), antes que o conceito mesmo apareça; e as várias modalidades de alterização através do canibalismo, até que, em um salto de imaginação, alimentada pelo diálogo de professor-aluna, vemos todos esses perspectivismos particulares se unificarem em um perspectivismo generalizado, agora na forma de um programa de pesquisa cheio de entusiasmo, consciente da descoberta de uma solução que é, por sua vez, o ponto de partida para uma “grande teoria unificada”. O professor aponta que a visão de Viveiros de Castro adota o ângulo de uma ontologia de modos de predação, que é intimamente conectada com “uma visão epistemológica quase desnorteadora por sua novidade, que é a teoria do perspectivismo ameríndio. Sem procurar resumi-la, essa teoria aponta para um aspecto crucial da pensée sauvage, mostrando os ameríndios como naturalistas que não apenas são taxonomistas ao estilo de Lineu, mas também argutos defensores, como Darwin, da unidade profunda que liga plantas, animais e humanidade, embora vendo essa unidade de um ângulo, por assim dizer, oposto, ao trazerem a animalidade para o domínio da humanidade”.
A “inconstância” da alma selvagem alude ao fato de que ao “tentarem catequizar os Tupinambá, os jesuítas encontravam sua maior dificuldade na ‘inconstância’ apresentada pelos índios. Estes pareciam sedentos para aprender os ensinamentos jesuíticos, mas a rapidez com que voltavam a seus antigos costumes era algo de assustador aos jesuítas”.
No recém lançado Metafísicas canibais, Viveiros de Castro reformula sua teoria do perspectivismo ameríndio, sob o viés amplo de sua aplicação na própria visão do antropólogo em pesquisa: através da aproximação entre filosofia e antropologia, analisa “o que deve conceitualmente a antropologia aos povos que estuda?”; as culturas e sociedades estudadas antropologicamente não somente influenciam, mas, “para dizer de modo mais claro, coproduzem” as teses formuladas.
Os ensaios aqui reunidos reúnem parte significativa das reflexões que Viveiros de Castro vem desenvolvendo desde a publicação de A inconstância da alma selvagem.
Em entrevista, concedida ao jornal O Globo, o autor disse, ao ser questionado sobre uma nota, em Metafísicas canibais, em que comenta ter exposto a ouvintes ameríndios suas teses sobre o perspectivismo e que eles perceberam as implicações que elas poderiam ter para “as relações de força em vigor entre as ‘culturas’ indígenas e as ‘ciências’ ocidentais que as circunscrevem e administram”, que percebeu, no confronto entre cientistas que estudam a Amazônia e os índios que vivem lá: “que os primeiros estão interessados apenas no saber indígena que interessa ao que eles, cientistas, já sabem, isto é, àquilo que se encaixa na moldura do conhecimento científico normalizado. Os índios são “úteis” aos cientistas na medida em que podem servir de informantes sobre novas espécies, novas associações ecológicas etc. Mas a estrutura metafísica que sustenta esse conhecimento indígena não lhes dizia absolutamente nada, ou era apenas um ornamento pitoresco para os fenômenos reais. E os índios, ao contrário, se interessaram precisamente pelo interesse de um branco (eu) sobre isso. O que me deu muita coisa a pensar”.
Na mesma entrevista, Viveiros de Castro comenta também outra ideia desenvolvida no livro, sobre a necessidade de não neutralizar o pensamento indígena, para leva-lo a sério: “Neutralizar este pensamento significa reduzi-lo ao efeito de um complexo de causas ou condições cuja posse conceitual não lhes pertence. Significa, como escrevi no livro, pôr entre parênteses a questão de saber se e como tal pensamento ilustra universais cognitivos da espécie humana, explica-se por certos modos de transmissão socialmente determinada do conhecimento, exprime uma visão de mundo culturalmente particular, valida funcionalmente a distribuição do poder político, e outras tantas formas de neutralização do pensamento alheio. Trata-se de suspender tais explicações-padrão, típicas das ciências humanas, ou, pelo menos, evitar encerrar a antropologia nela. Trata-se de decidir, em suma, pensar o outro pensamento como uma atualização de virtualidades insuspeitas do pensamento em geral, o “nosso” inclusive. Tratá-lo como tratamos qualquer sistema intelectual ocidental: como algo que diz algo que deve ser tratado em seus próprios termos, se quisermos respeitá-lo e incorporá-lo como uma contribuição singular e valiosa à nossa própria e orgulhosa tradição intelectual”.
O anti-Édipo, de Deleuze e Guattari, é um dos apoios da tese de Viveiros de Castro, que diz: “O Anti-Narciso é o título de um livro que nunca vou escrever, mas que brinco, à la Borges, que um dia vou. É uma espécie de versão para a Antropologia do anti-Édipo. Se Édipo é visto como protagonista da psicanálise, eu costumo provocar meus colegas de profissão dizendo que o nosso é Narciso. Nossa profissão parece obcecada em saber o que distingue ‘nós’ dos outros. O que torna ‘nós’, os homens, tão especiais diante do resto da criação? Ou o que diferencia ‘nós’, os ocidentais, ou ‘nós’, os sujeitos dos discursos antropológicos, daquelas outras sociedades que não fazem Antropologia? Não esqueçamos que Antropologia é o estudo do homem, mas, ao mesmo tempo, do homem mais diferente possível daquele que enuncia o discurso da Antropologia: o selvagem, o primitivo”. O antropólogo deve questionar esta incutida “ideia de que os seres humanos são um caso sui generis na criação, um animal que se autotranscendeu, e que, portanto, é animal por um lado, mas não é por outro. E toda questão é: Onde foi? Quando começou? Foi o pecado original? Foi a linguagem? Foi Édipo? Foi o simbólico? Foi o trabalho? Foi a corticalização? Foi o polegar oponível? A pergunta é: “Como é isso no mundo indígena? Será que é a mesma coisa?”.
Sobre a filiação filosófica de Viveiros de Castro em relação a Gilles Deleuze, é ilustrativa a seguinte passagem, do artigo “Filiação intensiva e aliança demoníaca”: “Para a minha geração, o nome de Gilles Deleuze evoca de pronto a mudança de orientação no pensamento que marcou os anos em torno de 1968, durante os quais alguns elementos-chave de nossa presente apercepção cultural foram inventados. O significado, as consequências e a própria realidade dessa mudança são objeto de uma controvérsia que ainda grassa. […] A verdadeira revolução se fez contra o evento e foi ganha pela razão (para usarmos o eufemismo de praxe), força que firmou o Império como a máquina planetária em cujas entranhas realiza-se a união mística do Capital com a Terra – a “globalização” – e a sua transfiguração gloriosa em Noosfera – a “economia da informação”, ou “capitalismo cognitivo”. (Se o capital não está sempre com a razão, dir-se-ia que a razão está sempre com o capital.) Para muitos outros, ao contrário, os inservíveis que não conseguiram não escolher uma trajetória minoritária, insistindo romanticamente (para usarmos o insulto de praxe) que um outro mundo é possível, a propagação da peste neoliberal e a consolidação tecnopolítica das sociedades de controle só poderão ser enfrentadas se continuarmos capazes de conectar com os fluxos de desejo que subiram à superfície por um brilhante e fugaz momento; já lá vão quase quarenta anos. Para esses outros, o evento puro que foi 68 ainda não terminou, e ao mesmo tempo talvez nem sequer tenha começado, inscrito como parece estar em uma espécie de futuro do subjuntivo histórico”.
Outro dos pilares sobre os quais paira a estrutura do fantástico “O anti-Narciso” é o conjunto das Mitológicas, de Lévi-Strauss. Ao longo dos quatro volumes que compõem a obra, Lévi-Strauss mostra a moral dos mitos, bem como a possibilidade que a mitologia abre enquanto leitura da história.
Viveiros de Castro analisa um ponto central da mitologia ocidental, que sustenta um narcisismo constante, ilustrada pela própria questão, “O que nos torna diferentes dos outros?”, que “já contém em si a resposta: de um lado nós e, do outro, eles – os outros, que podem ser vários outros, pouco importa, porque o que nos interessa na verdade somos nós”. Para ele, “perguntar o que nos faz diferente dos outros já é uma resposta, porque o que importa não são eles, e sim nós. Ou seja, a Antropologia começa – esta é minha tese provocativa para os meus colegas – quando ela começa a recusar a questão ‘o que é próprio do homem?’”. O mito que sustenta tal narcisismo é embasado pela ideia de que o “homem é aquele ser a quem, por chegar por último na criação, foi dado o poder de ter todos os poderes e, portanto, o homem não tem nada de próprio. Esse é um tema clássico na Mitologia ocidental. Como é próprio do homem ser ‘não ter nada de próprio’ parece lhe dar direitos ilimitados sobre as propriedades alheias”. Porém, os índios mostram uma possibilidade diversa, uma vez que eles falam, como o coloca o antropólogo: “‘Os animais são gente, os animais são como nós. Eles têm essa aparência de bicho, mas quando eles saem da nossa frente, eles tiram essa pele animal, que é como uma roupa’. Isto é, eles se revelam como antropomórficos, como idênticos a nós, como feitos da mesma forma. Quando se olham entre si, eles se veem como gente. Quando uma onça olha para outra onça, ela não vê uma onça, ela vê uma pessoa. E que cada espécie, na verdade – é um pouco a conclusão que você pode tirar dos mitos – é potencialmente dotada desse fundo comum de humanidade, e que toda espécie é humana para si mesma. Isto, traduzido em linguagem comum, é animismo: tudo é gente, é um mundo de fadas, um mundo encantado. E eles normalmente dizem que essa parte invisível, esse componente invisível dos animais, das plantas, das outras espécies, que é humanoide, é o que chamam de alma. A alma do animal é humana. Todos os animais possuem uma alma humana, donde a ideia de animismo. Isso tem uma alma e, tendo uma alma, essa alma é necessariamente semelhante à nossa”.
A importância dos mitos é explicar o mundo, as relações, como ilustra Viveiros de Castro na passagem que segue: “Boa parte dos mitos indígenas consiste precisamente em narrar de modo cômico os equívocos que surgem quando você passa de uma perspectiva para outra. São comuns mitos em que o índio está perdido na floresta, morrendo de fome, e encontra uma aldeia perdida na mata, de pessoas muito bonitas. Ele pede comida e ouve: ‘Claro! Vamos trazer para você um prato de peixe assado com batatas’. O índio acha uma maravilha, mas chega uma cuia cheia de vísceras humanas cruas, sangrando. Ele diz: ‘Isso aqui não é peixe assado.’, mas a resposta é: ‘É claro que é!’. A conclusão do mito é a seguinte: o índio se dá conta de que se isso é peixe, essas pessoas não são pessoas. Talvez sejam onças, que comem tripas cruas, mas que veem aquilo como peixe”.
Um antropólogo cuja obra Viveiros de Castro comenta e que discute a relação entre a alteridade e a antropologia é Pierre Clastres. A coletânea intitulada Arqueologia da violência reúne ensaios escritos pouco antes de sua morte, em 1977, e complementam as reflexões iniciadas A sociedade contra o Estado, na coletânea de textos publicada em 1974.
A ótima edição brasileira de Arqueologia da violência conta com prefácio do filósofo Benro Prado Jr. e com um interessante posfácio de Viveiros de Castro. Em resenha publicada no jornal O Globo, ele comenta que a “antropologia encarna, para Clastres, um projeto de consideração do fenômeno humano como definido por uma alteridade intensiva máxima, uma dispersão cujos limites são a priori indetermináveis. ‘Quando o espelho não nos devolve nossa própria imagem, isso não prova que não haja nada a observar’ ([1974] 2003: 35). Essa constatação seca encontra eco em uma formulação recente de Patrice Maniglier a propósito do que este filósofo chama de ‘a mais alta promessa’ da antropologia, a saber, a de ‘nos devolver uma imagem de nós mesmos em que não nos reconheçamos’ (2005: 773-74). O propósito de tal consideração, o espírito dessa promessa, não pode ser então o de reduzir a alteridade que envolve o percurso interno do conceito de humano, mas sim o de multiplicar as suas imagens. Alteridade e multiplicidade definem ao mesmo tempo o modo como a antropologia constitui a relação com seu objeto e o modo como seu objeto se autoconstitui. ‘Sociedade primitiva’ ou ‘contra o Estado’ é o nome que Clastres deu a esse objeto, e ao seu próprio encontro com a multiplicidade. E se o Estado existiu desde sempre, como argumentaram Deleuze & Guattari (1980: 445), então a sociedade primitiva também existirá para sempre: como exterior imanente do Estado, força de antiprodução sempre a ameaçar as forças produtivas, multiplicidade não interiorizável pelas grandes máquinas mundiais. ‘Sociedade primitiva’, em suma, é uma das muitas encarnações conceituais da perene tese da esquerda de que um outro mundo é possível: de que há vida fora do capitalismo, como há socialidade fora do Estado. Sempre houve, e — é para isso que lutamos — continuará havendo”.
O projeto antropológico de Pierre Clastres, como define Viveiros de Castro, busca a transformação da “antropologia ‘social’ ou ‘cultural’ em uma antropologia política, no duplo sentido de uma antropologia que tomasse o poder (não a “dominação”, a “exploração” ou o “conflito”) como imanente à vida social, e, mais importante, que fosse capaz de levar a sério a alteridade radical da experiência dos povos ditos primitivos, o que requeria, antes de mais nada, o reconhecimento de sua plena capacidade de autoinvenção e de autorreflexão”.
A sugestão de novas perspectivas perpendiculariza os horizontes. Essa ideia, base para o canibalismo metafísico das ciências, evidencia sua contingência histórica; sugerem uma possibilidade de redefinição relacional das categorias clássicas de natureza e cultura, a partir do conceito de perspectiva ou ponto de vista.
Longe de ser uma discussão restrita a especialistas da área, trata-se de uma questão profundamente filosófica, que diz respeito à epistemologia e à ontologia do ser. O que se investiga é tanto a identidade, quanto a alteridade, dinâmica que revela certa ingenuidade de um etnocentrismo, existente mesmo naquele que questiona o outro.
Como diz Viveiros de Castro, “supor que todo discurso ‘europeu’ sobre os povos de tradição não europeia só serve para iluminar nossas ‘representações do outro’ é fazer de um certo pós-colonialismo teórico a manifestação mais perversa do etnocentrismo. À força de ver sempre o Mesmo no Outro – de dizer que sob a máscara do outro somos ‘nós’ que estamos olhando para nós mesmos –, acabamos por tomar o atalho que nos leva ao que realmente, no fim e no fundo, nos interessa, a saber: nós mesmos”. É, portanto, a própria forma, “a estrutura da nossa imaginação conceitual que deve entrar em regime de variação”. Aceitar, diz o antropólogo, “a oportunidade e a relevância dessa tarefa de ‘penser autrement’ (Foucault) o pensamento – de pensar ‘outramente’, pensar outra mente, pensar com outra mente – é comprometer-se com o projeto de elaboração de uma teoria antropológica da imaginação conceitual, sensível à criatividade e reflexividade inerentes à vida de todo coletico, humano e não-humano”.
 Send to Kindle
Send to Kindle