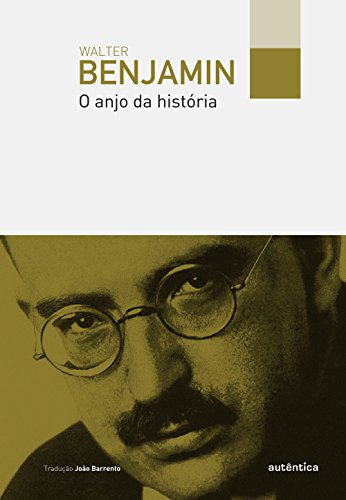Atualmente, muito tem se comentado a ideia de que o Estado de Exceção não é a exceção, mas a regra. Mas ainda precisamos compreender: como é desencadeado o real estado de exceção?

Goya, gravura da série “Desastres de la guerra”
Comentando a relevância e a atualidade da discussão sobre o tema sugerida pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, Èlida Gomes de Oliveira pontua: “O título desta obra [Estado de exceção] origina-se do latim excipio, que significa tomar, apanhar de seu lugar de origem, perder algo que se é próprio”. Frente à “constatação de ocorrências nos últimos governos ao tomarem decisões de enviar tropas do Exército nos casos de conflito que estariam colocando em risco tanto a segurança pública quanto a segurança Nacional”, – tais como a conclamação, pela população atordoada e apavorada, da presença das Forças Armadas – pode-se constatar múltiplos exemplos da tese de que o Estado de Exceção não é, senão, a regra: “Ironicamente, para se preservar a liberdade, segundo a lógica do governo, é preciso assegurar a soberania, mesmo que para isso se tenha que lançar mão da repressão para defender o sistema com situações de ditadura (experiência tão conhecida por nós, posta em prática durante a ditadura militar com a alegação de deter uma possível conspiração comunista através dos Atos Institucionais, a exemplo do AI 5 de 1968). O emprego do conceito de exceção do filósofo italiano se aplica ao entendimento do pensamento de Karl Schmitt, intelectual alemão de orientação conservadora, adepto do nazismo. De acordo com a doutrina schmittiana, o soberano que decide sobre a exceção é, na realidade, definido por ela, garantindo sua ancoragem na lei e na normalidade da exceção”.
Foi Walter Benjamin quem teorizou o “estado de exceção” como regra. O tema aparece já como questão central em Origem do drama barroco alemão, de 1925, e nos textos escritos no contexto do livro Passagens, sobretudo em “Sobre o conceito da história”, de 1940. É na oitava destas teses sobre o conceito de história, que a noção de estado de exceção aparece em todo o seu significado:
“A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘Estado de Exceção’, no qual nós vivemos, é a regra. Precisamos atingir um conceito de história que corresponda a isto. Então teremos diante de nós como nossa tarefa provocar o efetivo Estado de Exceção; e deste modo melhorará a nossa posição na luta contra o fascismo. A sorte deste depende não em última instância, que seus opositores lutem contra ele em nome do progresso como uma norma histórica. – A admiração de que as coisas que nós vivenciamos ‘ainda’ são possíveis no século XX, não é filosófica. Ela não está no início de um conhecimento, a não ser de que a idéia de história, de onde ela provém, não pode mais ser sustentada”.
Para Benjamin, “A tarefa de uma crítica da violência pode ser definida como a apresentação de suas relações com o direito [Recht] e a justiça [Gerechtigkeit]. Pois, qualquer que seja o efeito de uma determinada causa, ela só se transforma em violência, no sentido forte da palavra, quando interfere em relações éticas”. Segundo o filósofo, do ponto de vista do direito natural, não haveria “problema nenhum no uso de meios violentos para fins justos”. Porém, ele opõe a este o problema da legitimidade dos meios, colocado através da tese do direito positivo, ou positivado, que não justifica os meios pelos fins, mas julga o direito pelos meios: “Se a justiça é o critério dos fins, a legitimidade é o critério dos meios”.
Um soberano pode fugir à legitimação do direito estabelecido, para repor ou refazer um estado de direito. O estado de exceção é um dispositivo através do qual se produz uma situação de anomia, um vazio jurídico criado pelos poderes soberanos em nome da manutenção do poder em situações extraordinárias.
Analisando esta oposição, Márcio Seligmann-Silva, professor da Unicamp, no artigo “Walter Benjamin: o Estado de Exceção entre o político e o estético”, contextualiza: “Data de 1921 o famoso ensaio de Walter Benjamin “Zur Kritik der Gewalt”, que, como muitos outros trabalhos do pensador berlinense, tinha um título intraduzível. Em português, visando dar conta da ambigüidade do termo Gewalt, encontramos uma tradução duplicadora: “Crítica da violência – Crítica do poder”. A “indecidibilidade” que está no coração do termo alemão Gewalt, que significa tanto poder como violência (e afirma que um não existe sem o outro), já contém in nuce o centro da argumentação benjaminiana”. A ideia de exceção, diz Seligmann-Silva, acompanha toda a obra benjaminiana.
As contradições da Gewald, aponta o crítico, são aprofundadas a partir da análise da violência de guerra na sua dialética com o direito de guerra: “Esta violência é caracterizada justamente como ‘violência assaltante’. Ela revela que toda ‘paz’, não é nada mais do que uma sanção de uma vitória e o estabelecimento de uma nova ordem jurídica. Segundo o autor, é exatamente esta violência de guerra que deve servir de modelo para compreendermos qualquer violência. Da recente guerra européia, ele deduz que o militarismo revela uma dupla face da violência: enquanto uma compulsão (Zwang) para seu uso generalizado como meio para fins de Estado, ou seja, como meio para fins jurídicos, ela se revela tanto como ‘instituidora de direito’ como também, por outro lado, como ‘mantenedora de direito’”. A ambiguidade ética da Gewalt também pode ser percebida na punição via pena de morte (punição que revela um aspecto mítico da lei) e em outra instituição estatal: a polícia. De acordo com Seligmann-Silva: “Esta ambigüidade deriva do fato dela ser ao mesmo tempo um órgão, melhor dizendo, uma Gewalt, do sistema jurídico e também estabelecer de certo modo seus próprios fins jurídicos por meio de decretos. Ela é, portanto, poder mantenedor e instituidor do direito. A polícia funciona como um instrumento do Estado que intervém onde o sistema jurídico esbarra no seu limite. Alegando ‘questões de segurança’, o Estado pode assim controlar seus cidadãos”. Esta “ambigüidade proposital” está, segundo o crítico, “na origem de uma lógica de retro-alimentação do direito/poder que possui uma forma que recorda a circularidade (mítica). Afinal, as premonições míticas (e trágicas) sempre trazem em si a futura transgressão e o castigo”.
Trata-se da aporia jurídica, ou seja, de sua relação estrutural com a violência. O estado de exceção justamente inclui a violência no direito no mesmo momento em que suspende este. De acordo com Benjamin, impera não o soberano, mas a catástrofe: “O barroco contrapõe frontalmente ao ideal histórico da Restauração a idéia de catástrofe. E a teoria do estado de exceção constrói-se sobre esta antítese”. Segundo análise de Seligmann-Silva: “Do mesmo modo que no barroco Benjamin detectou um visão da história como um contínuo de catástrofes, nas suas reflexões históricas dos anos 1930 esta idéia tornou-se cada vez mais central. Agora tratava-se não mais de um estudo do século XVII […], mas sim da análise de uma situação concreta: a Alemanha nazista existiu por seus doze anos sob o signo de um estado de exceção declarado. As reflexões contidas no seu último texto, o ‘Sobre o conceito da história’, em parte reúnem idéias que já haviam sido avançadas ao longo da década anterior pelo próprio Benjamin. A teoria do choque, que ele desenvolveu a partir de suas leituras de Freud, de Baudelaire, de Poe, entre outras figuras-chave, também indica a presença desta modalidade do tempo que irrompe para estancar a continuidade da vida ‘normal’”.
Giorgio Agamben tem sido um dos intelectuais dedicados a refletir a respeito da tese do estado de exceção benjaminiano. Em seu livro Estado de exceção, ele cita Werner Spohr, [“Drobisch e Wieland”, 1993], que contextualiza filosoficamente a discussão, apontando que: “A expressão ‘guerra civil mundial’ aparece no mesmo ano (1961) no livro de Hannah Arendt, ‘Sobre a Revolução’, e no de Carl Schmitt sobre a Teoria do partisan. A distinção entre um ‘estado de exceção real’ (‘état de siège effectif’) e um ‘estado de exceção fictício’ (‘état de siège fictif’) remonta porém, como veremos, à doutrina de direito público francesa e já se encontra claramente articulada no livro de Theodor Reinach: ‘De l’état de siège. Étude historique et juridique’ (1885), que está na origem da oposição schimittiana e benjaminiana entre estado de exceção real e estado de exceção fictício. A jurisprudência anglo-saxônica prefere falar, nesse sentido, de ‘fancied emergency’. Os juristas nazistas, por sua vez, falavam sem restrições de uma ‘gewollte Ausnahmezustand’, um estado de exceção desejado, ‘com o objetivo de instaurar o Estado nacional-socialista’”.
Para Agamben: “Entre os elementos que tornam difícil uma definição do estado de exceção, encontra-se, certamente, sua estreita relação com a guerra civil, a insurreição e a resistência. Dado que é o oposto do estado normal, a guerra civil se situa numa zona de indecidibilidade quanto ao estado de exceção, que é a resposta imediata do poder estatal aos conflitos internos mais extremos. No decorrer do século XX, pôde-se assistir a um fenômeno paradoxal que foi bem definido como uma ‘guerra civil legal’ (Schnur, 1983). Tome-se o caso do Estado nazista. Logo que tomou o poder (ou, como talvez se devesse dizer de modo mais exato, mal o poder lhe foi entregue), Hitler promulgou, no dia 28 de fevereiro, o ‘Decreto para a proteção do povo e do Estado’, que suspendia os artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades individuais. O decreto nunca foi revogado, de modo que todo o Terceiro Reich pode ser considerado, do ponto de vista jurídico, como um estado de exceção que durou 12 anos. O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, através do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a criação voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado em sentido técnico) tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos que são chamados democráticos.
“Diante do incessante avanço do que foi definido como uma ‘guerra civil mundial’, o estado de exceção tende sempre mais a se apresentar como o paradigma de governo dominante na política contemporânea. Esse deslocamento de uma medida provisória e excepcional para uma técnica de governo ameaça transformar radicalmente -e, de fato, já transformou de modo muito perceptível- a estrutura e o sentido da distinção tradicional entre os diversos tipos de constituição. O estado de exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo”.
Como explica André Ricardo Dias Santos, mestre em Filosofia pela UFPB, no artigo “Violência e poder: o conceito de Estado de Exceção para Walter Benjamin e algumas de suas implicações na Filosofia Política contemporânea”: “No direito romano havia uma instituição denominada iustitium, através da qual o soberano declarava a interrupção ou a suspensão do direito em determinados momentos de necessidade, como ações de inimigos externos ou conflitos internos. Inicialmente, sua aplicação não visava instaurar uma nova ordem formal, mas suspender a aplicação da ordem vigente para a admissão de medidas excepcionais – que feririam aquela ordem primeira se aplicadas em sua vigência. Giorgio Agamben, em seu livro Estado de Exceção (2004), define o iustitium romano como o arquétipo do moderno Ausnahmezustand (estado de exceção) no qual a suspensão do direito faz acarretar um vazio normativo advindo de um poder de decisão que não pretende estabelecer uma nova ordem jurídica formal – como as formas de ditadura –, mas, ao contrário, estabelecer uma força estranhada de ‘lei’. O autor aponta que o Estado, nesse interregno, pretende deliberar e legislar sobre aquilo que formalmente não poderia normatizar. Agamben localiza essa ‘força de lei’ num espaço fictício, algo como um ‘imperium flutuante’, lugar de uma total ficção de lei. Esta força que se reveste de imperativo normativo, no estado de exceção, instrumentaliza-se em atos executivos que, embora não sendo leis, adquirem um estatuto de superioridade sobre as leis regularmente legitimadas. Por não basear-se sobre regramento superior, é arbitrada de tal forma que possibilita qualquer decisão e ação; ou seja, a problemática da aplicação deixa de ser prerrogativa de lei, já que esta foi suplantada pela força normativa e factual do estado de exceção, engendrando pura coerção”.
Para Agamben, “o estado de exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo”; é um estado que se apresenta “como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal”. Um poder além de regulamentações e controle, que, para Agamben, hoje não é mais excepcional, mas o padrão de atuação dos Estados.
O filósofo brasileiro Paulo Arantes, em seu livro O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência, analisa, o nosso, como um tempo em contínua guerra civil, marcado por uma generalizada ausência de perspectivas, por um estado de exceção permanente, pela alastrada catástrofe ambiental, pelo colapso urbano que culmina na militarização do cotidiano: uma era de perpétua emergência, em que esquerda e direita confluem na gestão de programas de urgência.
Ao longo dos ensaios que compõem o livro, Arantes analisa as manifestações ocorridas em junho de 2013, o extermínio colonial, a economia de guerra, a indústria dos presídios, as UPPs, o trabalho nos campos de concentração, as revoltas nos guetos, o golpe militar de 64 e o desafio de pensar a experiência da história em uma era de expectativas decrescentes.
Pedro Rocha de Oliveira pontua que, numa época que Paulo Arantes “há tempos já chama de ‘fuga para a frente’, o próprio adiamento, a relativização da vida, a espera, se transformou em fim-em-si-mesmo, espelhando e explicitando com fulgor sinistro a lógica circular da modernização-acumulação capitalista. Desde o Estado que combina agenciamento do sub-emprego e promoção do microcrédito à prática descarada da exceção, até as empresas que, através de violência econômica e extra-econômica, chantageiam povos inteiros, as típicas construções sociais modernas estão com os dentes de fora, mostrando a quê vieram, para quem quiser ver”. Nas palavras de Oliveira: “Lançando mão ocasional do seu sutil humor de cadafalso – procedimento de distanciamento que não tira ninguém do sufoco, mas devolve a ele com vitalidade renovada para a crítica do existente –”, Paulo Arantes “promove a experiência conceitual cuidadosa e radical desse tempo novo que dá a sensação de que a novidade morreu, mostrando o enraizamento dessa sensação na pré-histórica história catastrófica do capitalismo, defrontando o leitor com a necessidade de rejeitar urgentemente sua continuidade tediosa, trabalhosa, patogênica, destrutiva – rejeitar seus escombros, que persistem em se manter de pé”.
Segundo Eleonora de Lucena, em artigo publicado na Folha de São Paulo, para Paulo Arantes “há um ‘Himalaia de humilhações ressentidas pelos milhões na fila de espera à boca dos guichês de ingresso num mundo afluente que não para de encolher’. Na era do capitalismo turbinado pelas finanças, o Brasil se transformou de economia industrial periférica a plataforma de valorização financeira. O que exige um ‘estado de emergência econômica permanente’. Por isso, na avaliação de Arantes, é central ‘o Estado-guardião da renda mínima do capital’ e a posse ‘do aparelho político de acesso, gestão e açambarcamento de recursos num universo discricionário de monopólios, privilégios e compadrios’. ‘Estamos diante de uma máquina infernal de produção de hierarquias e extorsões em todos os recantos de uma sociedade congenitamente regida pelo nexo da violência econômica’, resume o autor”.
aposentada do Departamento de Filosofia, em resenha, pergunta: “Mas afinal que mudanças aconteceram no mundo que permitem infligir tanto sofrimento indevido a parcelas cada vez maiores da população mundial, sem provocar nenhuma comoção visível? Que mutação histórica foi essa que tornou plausível a comparação, extravagante à primeira vista, entre o novo mundo do trabalho, vigente sob o neoliberalismo, e o trabalho forçado do sistema concentracionário nazista? Por que considerar o Brasil um capítulo local do estado de exceção permanente que assola o planeta?”. A resposta, diz, encontra-se “no primeiro ensaio, que dá título e armação teórica ao livro, enquanto os outros expõem as figurações em que se traduz concretamente o Novo Tempo do Mundo. Sem poder entrar nos detalhes da reconstituição desse conceito, a ideia básica é que com a falência do horizonte de expectativas inaugurado com a Revolução Francesa – uma era de esperança em que se acreditava em mudanças fundamentais no futuro, à qual sucedeu, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o consenso liberal-keynesiano – a humanidade, para falar como Wallerstein, encalhou num ‘período negro’ de ‘caos sistêmico’. Com o fim da URSS e da Guerra Fria, começou-se a perceber que ‘o horizonte do mundo encolhera vertiginosamente e uma era triunfante de expectativas decrescentes principiara’, um ‘tempo intemporal da urgência perpétua: este o Novo Tempo do Mundo’ (p. 94). Em outros termos, o fim das grandes expectativas tem a data da morte do Welfare, com a reintrodução do medo econômico e da insegurança social em sociedades consideradas como de excessivo bem-estar. Vivemos em sociedades de risco, à beira do colapso ecológico, num permanente estado de alerta – não por acaso o princípio da responsabilidade e o da precaução fazem parte do debate -, indicando que o horizonte do mundo se estreitou”. Surge, diz Loureiro, assim, a grande questão: “como ‘manter o horizonte de tal modo descomprimido que o ‘não imaginado possa continuar imaginável’ ‘? (p. 97) Ou seja, como fazer política, ou melhor, antipolítica, em oposição ao fervor gestionário e policial aliado da lógica da valorização, que hoje faz as vezes de política? Veremos que o último ensaio responde de algum modo a essa questão, seis anos depois abriu-se uma fresta por onde sopra um pequeno vento de utopia no presente prolongado”. De acordo com a professora, “o cinismo das ‘elites delinquenciais de hoje’ (p. 244), que não acreditam mais em sua própria legitimidade e, por isso mesmo, ameaçam as populações recalcitrantes com a permanente emergência econômica, é um sinal da exaustão do capitalismo histórico, cuja fase atual – embora se refira à França, para bom entendedor meia palavra basta – Paulo Arantes caracteriza sarcasticamente como ‘ciclo de capitalismo de compadres’ (p. 232) ou, mais debochadamente, ‘capitalismo de conivência entre cupinchas’ (p. 211). Este o enquadramento em que a exacerbação do sentimento de insegurança se torna vital para a gestão, por parte do Estado, da ‘Era da Emergência'”.
Nas palavras de Paulo Arantes: “Ingressamos num regime de urgência: linearmente desenhado, o futuro se aproxima do presente explosivamente carregado de negações”.
Então vivenciamos atualmente um já desperto estado de exceção? Como ele foi desencadeado? – é preciso que as coisas mudem, para que permaneçam as mesmas, bem dizia o autor italiano Lampedusa.
Em artigo publicado em 2012, Bia Barbosa cita Paulo Arantes, para quem, em um país forjado na ditadura militar, prevalece o Estado de Exceção no âmago do Estado de Direito. Segundo o filósofo: “Que tipo de Estado e sociedade temos depois do corte feito em 64, do limiar sistêmico construído por coisas que parecem normais numa sociedade de classes, mas que não são? O fato da classe dominante brasileira poder se permitir tudo a partir da ditadura militar é algo análogo à explosão de Hiroshima. Depois que a guerra nuclear começa ela não pode mais ser desinventada. Quando, a partir de 64, a elite brasileira branca se permite molhar a mão de sangue, frequentar e financiar uma câmara de tortura, por mais bárbara que tenha sido a história do Brasil, há uma mudança de qualidade neste momento”. Paulo Arantes aponta que a ditadura militar no Brasil “não foi imposta. Ela foi desejada. Leiam os jornais publicados logo após 31 de março de 1964. Todos lançaram manifestos de apoio ao golpe, era algo arrebatador. CNBB, ABI, OAB, todo mundo que hoje é advogado do Estado de Direito apoiou. Se criou um mito de que a sociedade foi vítima de um ato de violência, mas a imensa maioria apoiou o golpe. […] E a ditadura se retirou não porque foi derrotada, mas porque conquistou seus objetivos. A abertura de Geisel foi planejada, já tinha dado certo com o milagre econômico. Tanto que seus ideólogos estão aí, como principais conselheiros econômicos da era Lula-Dilma, e que a ordem militar está toda consolidada na Constituição de 88″.
Assistindo atônitos aos constantes ataques à democracia no Brasil, lembramos das palavras do filósofo francês Gaston Bachelard, que, em A poética do espaço, diz: “A imagem poética é uma emergência da linguagem, está sempre um pouco acima da linguagem significante. Ao viver os poemas tem-se pois a experiência salutar da emergência. Emergência sem dúvida de pequeno porte. Mas essas emergências se renovam; a poesia põe a linguagem em estado de emergência. A vida se mostra aí por sua vivacidade. Esses impulsos lingüísticos que saem da linha ordinária da linguagem pragmática são miniaturas do impulso vital”. Um estado de emergência, concebido como puro movimento. No qual “um grande verso pode ter grande influência sobre a alma de uma língua. Faz despertar imagens apagadas. E ao mesmo tempo sanciona a imprevisibilidade da palavra. Tornar imprevisível a palavra não será um aprendizado da liberdade? Que encantos a imaginação poética acha em zombar das censuras! Outrora, as Artes poéticas codificavam as licenças. Mas a poesia contemporânea pôs a liberdade no próprio corpo da linguagem. A poesia aparece então como um fenômeno da liberdade”.
 Send to Kindle
Send to Kindle