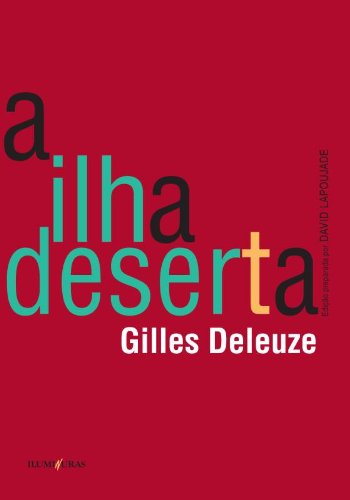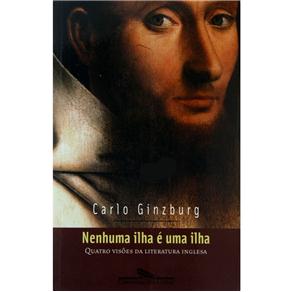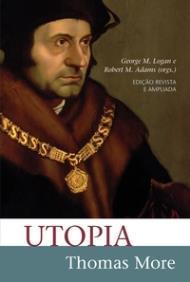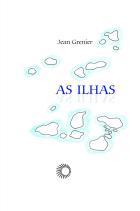A ilha tem sentidos metafóricos que vão da interiorização subjetiva mais profunda, à possibilidade de alcançar com a vista a totalidade dada a uma distância suficientemente grande.
Destino trágico dos resquícios de naufrágios, reduto de isolamento, lugar terrestre de intensa onipresença marinha e daquilo que ela tem de lúdica, inebriante e misteriosa.
O livro A ilha deserta é composto por uma sequência heterogênea de textos de Gilles Deleuze. São vários textos esparsos, publicados entre 1953 e 1974; pequenas pérolas, entre textos raros, resenhas, entrevistas, textos circunstanciais, depoimentos e conferências, há artigos luminosos sobre Bergson, Kant, Nietzsche, Hume, uma comovente homenagem a Sartre – “Ele foi meu mestre” –, uma conversa ensandecida sobre pintura –“Faces e Superfícies” – e o enigmático e belíssimo texto, inédito, que dá título ao volume, “Causas e Razões da Ilha Deserta”, que assim se inicia:
“Os geógrafos dizem que há dois tipos de ilhas. Eis uma informação preciosa para a imaginação, porque ela aí encontra uma confirmação daquilo que, por outro lado, já sabia. Não é o único caso em que a ciência torna a mitologia mais material e em que a mitologia torna a ciência mais animada. As ilhas continentais são ilhas acidentais, ilhas derivadas: estão separadas de um continente, nasceram de uma desarticulação, de uma erosão, de uma fratura, sobrevivem pela absorção daquilo que as retinha. As ilhas oceânicas são ilhas originárias, essenciais: ora são constituídas de corais, apresentando-nos um verdadeiro organismo, ora surgem de erupções submarinas, trazendo ao ar livre um movimento vindo de baixo; algumas emergem lentamente, outras também desaparecem e retornam sem que haja tempo para anexa-las. Esses dois tipos de ilhas, originárias ou continentais, dão testemunho de uma oposição profunda entre o oceano e a terra. Umas nos fazem lembrar que o mar está sobre a terra, aproveitando-se do menor decaimento das estruturas mais elevadas; as outras lembram-nos que a terra está ainda aí, sob o mar, e congrega suas forças para romper a superfície. Reconheçamos que os elementos, em geral, se detestam, que eles têm horror uns dos outros. Nada de tranquilizador nisso tudo. Do mesmo modo, deve parecer-nos filosoficamente normal que uma ilha esteja deserta. O homem só pode viver bem, e em segurança, ao supor findo (pelo menos dominado) o combate vivo entre a terra e o mar. Ele quer chamar esses dois elementos de pai e mãe, distribuindo os sexos à medida do seu devaneio. Em parte, ele deve persuadir-se de que não existe combate desse gênero; em parte, deve fazer de conta que esse combate já não ocorre. De um modo ou de outro, a existência das ilhas é a negação de um tal ponto de vista, de um tal esforço e de uma tal convicção. Será sempre causa de espanto que a Inglaterra seja povoada, já que o homem só pode viver sobre uma ilha esquecendo o que ela representa. Ou as ilhas antecedem o homem ou o sucedem”.
Nenhuma ilha é uma ilha, do historiador Carlo Ginzburg, reúne quatro ensaios sobre a literatura inglesa. Na introdução, Ginzburg diz ser um grande cultivador do gênero ensaístico, e buscar aliá-lo, ao longo dos textos, às discussões em escala “micro-histórica”, buscando evidenciar o caráter não absolutamente insular que rege a concepção da literatura inglesa.
O primeiro ensaio, “O velho e o novo mundo vistos da Utopia”, analisa a obra Utopia, de Thomas More, buscando suas origens nos textos de Luciano de Samósata, autor traduzido e admirado tanto por More como por seu amigo Erasmo de Rotterdam. Segundo Ginzburg, é possível estabelecer uma filiação, do texto de Thomas More, com o humor refinado e o estilo satírico característico das obras de Luciano. O segundo ensaio, “Identidade como alteridade”, se debruça sobre a poesia inglesa, analisando as rimas características da poesia elisabetana. Aqui, o historiador mostra o diálogo com outras línguas, sobretudo a influência da prosa de Montaigne sobre a formação dos versos ingleses. O terceiro ensaio dedica-se à leitura do ilustre A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, de Laurence Sterne, o qual, segundo Ginzburg, tem no dicionário filosófico de Pierre Bayle sua principal referência e, também, o mesmo estilo, utilizando em larga escala as abstrações reflexivas.
Diz o autor: “Nos dois primeiros capítulos falou-se de ilhas – ilhas inventadas, como a de Utopia, ou reais, como a Inglaterra – de uma perspectiva não insular. Contra o lugar-comum corrente segundo o qual todas as narrativas pertenceriam em alguma medida à esfera da ficção, procurou-se mostrar que existe uma relação complexa entre as narrativas inventadas e as narrativas com pretensão à verdade. A ilha imaginada de Utopia permitiu que Thomas More percebesse (e denunciasse) as extraordinárias transformações em curso na sociedade inglesa. A defesa da rima como procedimento literário diante das acusações de barbárie tinha lugar em uma ideologia imperialista nascente, voltada a acentuar a distância cultural e política entre as ilhas britânicas e o continente europeu. Verdade e ficção, examinadas de uma perspectiva não insular, encontram-se igualmente no centro deste terceiro capítulo, dedicado ao Tristram Shandy de Laurence Sterne”.
O quarto ensaio, “Tusitala e seu leitor polonês”, aponta uma relação entre um conto do escritor Robert Louis Stevenson – Tusitala, ou seja, “aquele que conta histórias” –, intitulado “O diabo na garrafa”, e a obra do etnólogo anglo-polonês Malinowski. A história foi inspirada em uma lenda que Stevenson ouviu de tribos do Pacífico Sul, tribo cuja particular organização social, sistema de ritos e modo de vida inspiraram as pesquisas do etnólogo.
Para desconstruir o pretenso isolamento literário da Inglaterra e investigar a formação da literatura e da identidade nacional inglesas, Ginzburg alia os estudos de caso à sua peculiar erudição. Desdobrando os sentidos da “ilha, real ou imaginária, evocada no título”.
Passeios na ilha foi o terceiro livro de prosa de Carlos Drummond de Andrade, publicado originalmente em 1952. O volume reúne textos históricos, crônicas, aforismos, poemas em prosa e crítica literária.
A “ilha” a que o título se refere tem sentido metafórico: “Minha ilha (e só de a imaginar já me considero seu habitante) ficará no justo ponto de latitude e longitude, que, pondo-me a coberto de ventos, sereias e pestes, nem me afaste demasiado dos homens nem me obrigue a praticá-los diuturnamente”.
É dali que o poeta interpreta a vida literária brasileira, desenvolvendo em sua prosa um tom que combina a compreensão e a ironia historicamente perspectivadas. Os textos são fruto da colaboração de Drummond com jornais e revistas entre as décadas de 1930, 40 e 50, sobretudo o com Correio da Manhã – o poeta disse que estes textos não foram escritos, mas se foram escrevendo pelos domingos e publicados no Correio da Manhã, textos errantes, que caminham por diferentes formas e temas. Segundo Paulo Werneck, em resenha publicada no caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo, a maioria dos textos desses Passeios na ilha “confina com o ensaio literário, à maneira do que faz Manuel Bandeira em “Crônicas da Província do Brasil” (1937), espécie de ensaísmo confessional que abre as portas da constituição de sua obra poética”. Ali, diz o crítico, “se adivinha a gestação de “Claro Enigma“, lançado um ano antes”.
O livro abre caminho crítico para pensar as posições da chamada arte participante, alardeadas pela militância do Partido Comunista fora e dentro do Brasil, a atitude de cultivo estrito da forma estética defendida pelos poetas da geração de 1945. Também registra seus passeios por Minas, suas visitas a Ouro Preto, Sabará e Congonhas do Campo – a partir Das quais, ele escreveu alguns dos mais belos dentre seus textos em prosa, como “Contemplação de Ouro Preto” e “Colóquio das Estátuas”, no qual conversa com os profetas que Aleijadinho fez em pedra-sabão, “mineiros de há 150 anos e de agora, taciturnos, crepusculares, messiânicos e melancólicos”.
Na ilha de Drummond, “nenhuma central elétrica de milhões de quilowatts será capaz de produzir aquilo de que precisamente cada um de nós carece na cidade excessivamente iluminada: certa penumbra”.
Utopia, de Thomas More, é uma ilha regida por basicamente dois princípios, a inexistência de propriedade privada e a supremacia dos interesses coletivos. Um dos livros mais influentes de todo o estudo vindouro de filosofia política, a Utopia satiriza a sociedade europeia, apontando a propriedade privada como a fonte das mazelas humanas – por isso, é proibida por lei naquela ilha idealizada, justa e igualitária, onde o cultivo da terra é feito em intervalos de dois anos por qualquer cidadão.
A ilha assemelha-se à Inglaterra, como seu negativo. Em Utopia é conferido um lugar de destaque aos estudos de ciência e de filosofia; a tolerância religiosa é pregada, apesar de que todos são obrigados a crer na Divina Providência e na imortalidade da alma; desaparecem o egoísmo, o belicismo, a depravação moral que assolavam a Inglaterra do século XVI. A razão é o fundamento político. O trabalho, assim como a riqueza, deveria ser distribuído igualmente a todos – na Inglaterra de seu tempo, diz More, constrangedoramente familiar, se o verdadeiro exército de classes inúteis, compostas pelo clero, pela nobreza militar e pelos proprietários de terra, também trabalhassem em algo produtivo, haveria suprimentos suficientes para todas as necessidades da sociedade, assim como acontece em Utopia.
A metáfora geográfica da ilha explica o sentido da idealização de Thomas More: Utopia estaria localizada no Novo Mundo – seria alcançável, apesar de que, para tanto, exigiria uma empresa complexa. A ilha simboliza aqui a esperança de um novo tempo, orientado pelos princípios do Renascimento e do Humanismo, instaurado a partir da possibilidade de conceber uma sociedade melhor, em um novo lugar, isolado, alheio às vicissitudes morais e sociais europeias.
A ilha representa o outro. A despeito de sua apresentação aparentemente fantasiosa, a obra é estritamente racional e deve sua concepção muito à República de Platão, também governada de maneira justa pelo uso da razão. Uma obra de teoria política e moral, que tornou-se metáfora de sua própria ideia – utópica, insular.
As ilhas, de Jean Grenier (1898 – 1971) foi publicado pela primeira vez em 1933. O volume, para Albert Camus, amigo e aluno de Grenier na Argélia antes da guerra, foi a leitura arrebatadora que lhe despertou o ímpeto de tornar-se escritor. Como analisa o escritor Gilles Lapouge, em resenha publicada no jornal O Estado de São Paulo, diz: “Claro que Jean Grenier e Albert Camus são filósofos, mas a sua grandeza é que o filósofo, nos dois casos, foi engolido, como se digerido, pelo escritor. O que não significa que a carga filosófica de As ilhas ou O estrangeiro seja ínfima. Não. Mas ela é comunicada por imagens, alegrias intensas ou soluços, o movimento branco de uma nuvem, a pele das mulheres”.
No prefácio que Camus escreveu para a reedição de 1959 de As ilhas, pontua que o livro representou para sua geração uma iniciação ao desencanto do mundo. Segundo outra resenha, escrita por Manuel da Costa Pinto para o jornal Folha de São Paulo, um “desencanto paradoxal, que reafirmava a volúpia pelos “frutos da terra” (para mencionar o livro de André Gide que serviu de bússola para o hedonismo pessimista de Grenier e Camus)”. Os textos de Grenier são, para o crítico, “portadores de uma filosofia ao rés do chão, pequenas cenas semelhantes a um diário (passeios por cidades europeias, a contemplação de um gato, a conversa com um açougueiro moribundo) desencadeiam reflexões sobre “o pouco de realidade das coisas”, a sensação de “vacuidade”, enfim, lugares-comuns da inquietação metafísica”.
Entre as suas ilhas, Grenier diz: “Perguntam-te por que se viaja. A viagem pode ser para os espíritos que carecem de uma força sempre intacta, o estimulante necessário para despertar sentimentos que na vida quotidiana não se manifestavam. Viaja-se, então, para recolher, num mês, num ano, uma dúzia de sensações raras, eu ouço aquelas que podem suscitar em você este canto inferior sem o qual nada do que se experimenta vale.
“[…] Portanto, pode-se viajar não para evadir-se, algo impossível, mas para se encontrar. A viagem torna-se então um meio, como os jesuítas empregaram os exercícios corporais, os budistas o ópio e os pintores o álcool. Uma vez que se serviu disso e que se atinge o limite, empurra-se com o pé a escada que te serviu para subir. Esquece-se as jornadas enjoativas da viagem marítima e as insônias do trem quando se chegou a se reconhecer (e para além de si mesmo outra coisas, sem dúvida), e este “reconhecimento” não está sempre no fim da viagem que se faz: na verdade, quando ele ocorre, a viagem está concluída.
“É bem verdade, portanto, que nessas imensas solidões em que um homem deve atravessar do nascimento à morte, existem alguns lugares, alguns momentos privilegiados em que a visão de uma região age sobre nós, como um grande músico sobre um instrumento banal que ele revela, falando propriamente a si mesmo. O falso reconhecimento é o mais verdadeiro de todos: reconhece-se a si mesmo: e quando diante de uma cidade desconhecida a gente se admira como diante de um amigo que se tinha esquecido, é a imagem verídica de si mesmo que se contempla”.
Ogígia dos sonhos, moradia de Calypso, Ítaca do regresso estimado, a Ilha das Sereias, cujo encanto é mortal. Desde os primórdios da filosofia e da literatura, discorre-se sobre as ilhas, redutos metafóricos daquilo que se aspira, também do que é instransponível.
“[…] Engajados, vosso engajamento é a vossa ilha, dissimulada e transportável. Por onde fordes, ela irá convosco. Significa a evasão daquilo para que toda alma necessariamente tende, ou seja, a gratuidade dos gestos naturais, o cultivo das formas espontâneas, o gosto de ser um com os bichos, as espécies vegetais, os fenômenos atmosféricos. Substitui, sem anular. Que miragens vê o iluminado no fundo de sua iluminação?… Supõe-se político, e é um visionário. Abomina o espírito de fantasia, sendo dos que mais o possuem. Nessa ilha tão irreal, ao cabo, como as da literatura, ele constrói a sua cidade de ouro, e nela reside por efeito da imaginação, administra-a, e até mesmo a tiraniza. Seu mito vale o da liberdade nas ilhas. E, contentor do mundo burguês, que outra coisa faz senão aplicar a técnica do sonho, com que os sensíveis dentre os burgueses que se acomodam à realidade, elidindo-a?
A ilha que traço agora a lápis neste papel é materialmente uma ilha, e orgulha-se de sê-lo. Pode ser abordada. Não pode ser convertida em continente. Emerge do pélago com a graça de uma flor criada para produzir-se sobre a água. Marca assim o seu isolamento, e como não tem bocas de fogo nem expedientes astuciosos para rechaçar o estrangeiro, sucede que este isolamento não é inumano. Inumano seria desejar, aqui, dos morros litorâneos, um cataclismo que sovertesse tão amena, repousante, discreta e digna forma natural, inventada para as necessidades de ser no momento exato em que se farta de seus espelhos, amigos como inimigos. […]” – Passeios na ilha, Drummond.
 Send to Kindle
Send to Kindle