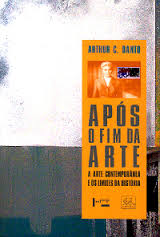O célebre tema, hegeliano, tornou-se um mote da teoria e da crítica de arte contemporânea.
Baseada no domínio da subjetividade, a situação da arte, na estética de Hegel, deve ser analisada de acordo com o desenvolvimento do espírito como um todo. Retomadas, suas reflexões são fundamento para a discussão dos rumos da arte contemporânea e dos limites das narrativas acompanham o que os artistas produzem.
A questão germinou a discussão, presente sobretudo na filosofia francesa contemporânea, sobre a estetização do mundo.
G. W. F. Hegel, ao ministrar seus Cursos de Estética, no século XIX, enunciou a tese do “fim da arte”. O filósofo, não procurava clamar a destruição da arte ou das práticas artísticas, mas distinguir e estabelecer a mudança de significado sofrida pelas artes, no mundo moderno, desde a antiguidade. Desde a Grécia antiga, a arte tanto seguia quanto oferecia uma orientação ligada à filosofia e a concepções políticas e sociais e, com a arte moderna, essa vinculação teria chegado ao fim. Trata-se, grosso modo, do fim do verdadeiro ideal, ou seja, fim do papel privilegiado da arte enquanto revelação e manifestação da verdade. Pois, valendo-nos da ambiguidade da palavra “fim” – término, mas também finalidade –, “o fim da arte consiste em pôr ao alcance da intuição o que existe no espírito do homem, a verdade que o homem guarda no seu espírito”.
O filósofo brasileiro Gerd Bornheim, em Páginas de filosofia da arte, retoma a formulação hegeliana da morte da arte, mostrando seu sentido como interrupção de um modelo artístico fundamentado no conceito de imitação, com a arte, que nasce com o romantismo, baseada na dicotomia sujeito-objeto.
De acordo com a pesquisadora Márcia C. F. Gonçalves, conforme o diz no artigo “A morte e a vida da arte”, porém, é necessário cuidado interpretativo, pois a “especulação estética de Hegel não envolve uma constatação do fim da arte enquanto fenômeno histórico, mas apenas da sua transformação gradual a partir do predomínio da reflexão sobre intuição na idade moderna”.
Os Cursos de Estética de Hegel podem ser considerados como o maior empreendimento de filosofia da arte dos tempos modernos. Os quatro volumes investigam filosoficamente o fenômeno sensível da arte. A tradução desta edição brasileira foi feita a partir do original alemão, tomando como base a primeira edição de 1835, e vem acompanhada de um glossário com os principais conceitos empregados por Hegel.
Arthur C. Danto, em seu célebre Após o fim da arte : A Arte Contemporânea e os Limites da História, investiga a significação artística e filosófica, por um lado, da independência diante da história e, por outro, do caráter radicalmente livre e reflexivo, da arte a partir, sobretudo, da década de sessenta do século passado.
Analisando a implicação de uma nova relação entre a arte e o mundo, Danto desenvolve uma teoria do fim da arte filiada diretamente a Hegel. Assim, sua ideia de um fim da arte não significa propriamente seu término, mas o fim das restrições históricas e canônicas à produção artística – que libertou-se, inclusive, da ideia de belo enquanto finalidade ou fundamento.
Para o filósofo, as obras de Duchamp abriram a possibilidade, para os artistas, do “uso de materiais não convencionais para que fizessem o tipo de crítica que pretendiam – para efetivamente esfregar no nariz da sociedade os emblemas das suas deficiências”.
O professor Pedro Süssekind, no artigo “Greenberg, Danto e O Fim da Arte”, mostra a discussão de Danto à luz da discussão que estabelece com a crítica kantiana – consequentemente, sua discussão com o crítico Clement Greenberg: “Segundo a leitura feita por Danto, o compromisso com os parâmetros da estética implica uma contraposição entre beleza e utilidade. A atribuição dos juízos de gosto a um prazer desinteressado, na “Crítica da faculdade do juízo”, marcaria essa distinção entre o campo estético e o campo prático. A apreciação da beleza desprovida de qualquer interesse, de acordo com a concepção kantiana, sustentaria um tipo de crítica que busca a “qualidade” das obras de arte, sua pureza, como pretendia Greenberg. Não estava em jogo pensar o que era arte, mas separar a arte boa, de qualidade, da arte ruim, com base no gosto apurado do crítico. E a pintura constituía, nessa perspectiva, o gênero mais tradicional e mais puro da criação de objetos voltados para a contemplação. A finalidade ou a função da obra era reduzida, assim, ao prazer que ela era capaz de despertar em função das características de elaboração e composição que levavam adiante a evolução artística da pintura”. Süssekind considera “que a principal tese de Danto na filosofia da arte, a tese sobre o fim da arte, vem justamente de um desafio imposto pelas limitações da crítica greenberguiana, que a partir de certo momento (a década de 1960) reage contra os rumos da arte contemporânea”.
Nosso presente, chamado por ele de “momento pós-histórico”, é marcado por um profundo pluralismo e uma total tolerância, em que nada é excluído. Danto mostra a preocupação com o fim do modernismo e investiga o que significa ter prazer com a arte na realidade pós-histórica. Tanto no plano das ideias, como no das realizações artísticas, o autor analisa a cena artística mundial perguntando-se como a arte se torna historicamente possível e como ela pode ser pensada criticamente.
O livro é dedicado à filosofia da história da arte, à estrutura das narrativas, ao fim da arte e aos princípios da crítica de arte.
Hans Belting, no mesmo período, publicou o seu, também notável, O fim da história da arte.
O volume reúne dois ensaios, nos quais o crítico articula questões centrais para a reflexão sobre a história da arte: é preciso, diz ele, reformular a “ciência das artes”, criar uma abordagem que evite o maior erro de um historiador, o anacronismo.
Segundo Belting, a história da arte, tal como canonicamente contada, é fruto de um “equívoco ocidental”, que trata o desenvolvimento de algumas correntes da produção visual de qualquer cultura como parte de uma narrativa única e universal. O autor propõe uma revisão das concepções da pesquisa; oferece, sob esta perspectiva, um amplo panorama da produção em história da arte, problematiza algumas peculiaridades da arte contemporânea, tenta entender as particularidades do papel dos museus ao longo da história da arte e, assim, oferece “uma nova e mais abrangente história da imagem”.
Para o autor, algo intrínseco à construção tanto da arte quanto da história se modificou. Ele refere-se, assim, ao fim de uma determinada narrativa histórica da arte; de modo que o chega ao fim é, precisamente, uma determinada forma de narrativa, não o tema da narrativa. A história da arte, construída como “um esquema rígido de apresentação histórica da arte, o qual na maioria das vezes resultou numa história puramente estilística”, evoluiu, isolada de uma visão abrangente do homem e sua história. A crise desta história estilística teve como estopim a emergência das vanguardas, fundamentadas em um discurso de construção da “história da arte do progresso”. Segundo Belting: “Embora a ideia da arte ainda constituísse o teto sob o qual ambas se sentiam em casa, ela não proporcionava mais a imagem de um todo. Desse modo, ambos os modelos se contradiziam quando ocupavam um lugar comum, na medida em que continham como contradição a continuidade da história e a ruptura com a história. O ideal da primeira modalidade de história da arte estava no passado e o da segunda no futuro”.
A história da arte determina o objeto artístico enquanto um evento que surge, “em determinado momento para uma finalidade precisamente delimitada”. Segundo Belting, neste conceito “está presente tanto o significado de uma imagem como a compreensão de um enquadramento: o acontecimento artístico, como imagem, no enquadramento apresentado pela história escrita da arte”. Seu interesse crítico cultural concentra-se sobretudo nas condições que formam a sociedade e as instituições.
Marco Aurélio Werle, professor de Estética da Faculdade de Filosofia da USP, no livro Questão do fim da arte em Hegel, retoma o debate e, a partir de sua matriz na estética de Hegel, trata de desdobramentos posteriores da questão, como a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e os trabalhos dos críticos Peter Burger, Arthur Danto e Hans Belting.
O professor, que traduziu os Cursos de Estética de Hegel, levanta, por exemplo, a questão da filiação de Walter Benjamin e de sua famosa tese da perda da aura do objeto artístico, a Hegel e seu fim da arte. Em artigo, Werle, como o diz, à guisa de introdução, “analisa e compara a reflexão de Hegel e de W. Benjamin sobre a crise da arte na época moderna, a partir de semelhanças e diferenças entre a tese do fim da arte, defendida pelo primeiro, e a concepção da perda da aura na arte, afirmada pelo segundo. Ao contrário de W Benjamin, que se detém na mudança do conceito de arte promovida pelos meios técnicos, Hegel pensa a transformação da arte a partir de um ponto de vista histórico amplo, que envolve toda a história da arte, desde os tempos antigos até a época moderna”. Para Werle, “Hegel e W. Benjamin percebem de modo diferente a crise da obra de arte na época moderna pelo fato de o segundo se dedicar com exclusividade ao ápice, ao momento alto desta crise, que se dá na passagem do século XIX ao XX, ao passo que o primeiro, por assim dizer, “prepara” toda a questão desde os primórdios da arte. Há na estética de Hegel uma reflexão ampla sobre a natureza mesma da constituição de uma obra de arte, do conceito de obra [Werk], que abrange historicamente tanto o momento em que nem existe ainda uma obra de arte (no mundo oriental) até o momento em que a obra alcança sua plena realização (no mundo grego) e, por fim, entra em crise ou se torna impossível de ser realizada em sentido elevado (no mundo cristão moderno). A noção de obra não é então um conceito somente “estético”, e sim remonta a uma situação de mundo: a obra somente se realiza quando o espírito se identifica a si mesmo no elemento do sensível, com os gregos. No mundo oriental aspira-se a uma realização acabada da forma sensível, porém, o universal abstrato não consegue deter-se no individual a ele mesmo adequado; no Cristianismo, por outro lado, o universal já não mais está unido com o sensível, de modo que abandona a ideia de uma reconciliação não espiritual. Por conseguinte, o caráter de crise da obra de arte na análise de Hegel é algo que já vem se preparando há muito tempo, analogamente ao que se passa com o tema do fim da arte (não morte da arte, como pretendem alguns, dentre eles VATTIMO, 1996, p. 39-45), que não significa que a arte na época de Hegel chegou ao término, e sim que a arte, depois dos tempos áureos da Grécia, não corresponde mais aos supremos interesses do espírito. Na perspectiva hegeliana, o problema da obra começa a se tornar de fato uma questão que preocupará a arte com o advento do Cristianismo e que se colocará no centro do que essa religião entende por arte”.
Márcia C. F. Gonçalves, no supracitado artigo, faz uma contextualização sintética da questão que merece ser citada integralmente, pois expressa com precisão o cerne da discussão sobre os ecos da formulação hegeliana, tanto para a filosofia, quanto para arte:
“A tese sobre o fim da arte — reconhecida na estética hegeliana e repetida aos quatro ventos das academias (não só das de filosofia, como também das de arte) —, ressurge aqui e agora apenas como pano de fundo capaz de explicar a opção de alguns filósofos do final do século XX e início do XXI por ocupar-se desse objeto tão pouco determinado, tão múltiplo, e cada vez menos sagrado, que é o objeto de arte. Assim como para pensarmos filosoficamente a religiosidade hoje é necessário encarar sem medo o fenômeno da morte de deus, não como o fim último de toda a divindade, mas como negação da negação, ou seja, como a negação de um mundo imediatamente visto apenas como finito; ou, se para refletirmos filosoficamente sobre a história hoje, é necessário admitir o fim do conceito de evolução linear e sucessão progressiva que fundamentou inicialmente a ideia teleológica do tempo; também para pensarmos hoje filosoficamente a arte é duplamente necessário abandonar, por um lado, a ideia de evolução histórica da arte em um sentido linear e progressivo, por outro, a ideia de um único conteúdo, estático e divinamente transcendente, para toda e qualquer forma de arte. Isso não significa que o filósofo da arte do século XXI possa (mais do que aquele do século XIX) — graças ao próprio testemunho do surgimento de novas e inusitadas formas artísticas — melhor compreender o fenômeno da arte. Ao contrário: o que o filósofo contemporâneo da arte pode testemunhar é exatamente o desdobramento de uma importante verdade filosófica — identificada já pelo filósofo do século XIX — sobre o movimento eternamente contraditório, não apenas da arte, como de todas as formas de produção do ser humano, que, por meio delas, busca, em primeiro lugar, conhecer-se a si mesmo e, em segundo, superar-se ou alcançar a sua liberdade”.
 Send to Kindle
Send to Kindle
![Hegel, "Cursos de Estética" [vol. I]](http://obenedito.com.br/wp-content/uploads/2015/11/cursos-de-estética.jpg)