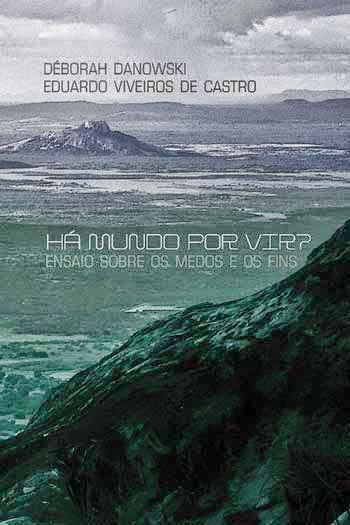Protesto por demarcação de terras indígenas, em Brasília (Foto: REUTERS/Gregg Newton)
Davi Kopenawa, líder dos Yanomami, no seu livro A queda do céu diz: “os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar com eles mesmos”.
Essa frase, para Eduardo Viveiros de Castro e Déborah Danowski, contém em si uma imagem do pensamento, uma teoria e uma crítica da filosofia ocidental: uma crítica do próprio projeto civilizatório. Para os Yanomami, o pensar é, essencialmente, sonhar: sonhar com o que não é humano, sair da humanidade.
Em Há um mundo por vir?, Viveiros de Castro e Danowski compreendem, da fala de Davi Kopenawa, que nosso pensamento – ocidental e etnocêntrico – está concentrado no “mundo da mercadoria” e, por isso, só vemos a nós mesmos: os brancos só sonham consigo mesmos, não saem de si mesmos, não saem da humanidade.
Uma questão em voga sobre determinação de civilizações, comunidades e territórios indígenas, ilustra um pouco da dimensão filosófica e política da discussão. Em entrevista – “Exceto quem não é” – de 26 de abril de 2006, no Instituto Socioambioental (ISA), Eduardo Viveiros de Castro, discutindo a noção de definição indígena, diz: “essa discussão — quem é índio? o que define o pertencimento? etc. — possui uma dimensão meio delirante ou alucinatória, como de resto toda discussão onde o ontológico e o jurídico entram em processo público de acasalamento. Costumam nascer monstros desse processo”. Para o antropólogo, a “Constituição de 1988 interrompeu juridicamente (ideologicamente) um projeto secular de desindianização, ao reconhecer que ele não se tinha completado. E foi assim que as comunidades em processo de distanciamento da referência indígena começaram a perceber que voltar a “ser” índio — isto é, voltar a virar índio, retomar o processo incessante de virar índio — podia ser uma coisa interessante. Converter, reverter, perverter ou subverter (como se queira) o dispositivo de sujeição armado desde a Conquista de modo a torná-lo dispositivo de subjetivação; deixar de sofrer a própria indianidade e passar a gozá-la. Uma gigantesca ab-reação coletiva, para usarmos velhos termos psicanalíticos. Uma carnavalização étnica. O retorno do recalcado nacional”.
Infelizmente, os acontecimentos recentes de retaliação policial violenta a protestos indígenas, aliados ao seu continuado extermínio, tão eficaz pelo empoderamento exponencial das grandes motosserras de ouro, levam a outra consideração, ao fundo do poço sem fundo que é o Brasil. Eliane Brum, no urgente artigo “Os que apodrecem”, publicado em 2 de maio no jornal El País, pergunta: “Quanto mal o governo-9%-de-aprovação-Temer ainda pode fazer?”; e responde: “As flechas empunhadas pelos indígenas que ocuparam Brasília na semana passada podem indicar. É contra os mais vulneráveis, os que ninguém liga, os grandes outros do Brasil que as mãos corrompidas avançam sem a necessidade de disfarçar sequer no discurso. É desta aldeia chamada Funai que vem se arrancando peça por peça e talvez em breve o dia amanheça e já não existam sequer cadeiras. É ali que o pior de ontem é melhor do que o pior de hoje. E no amanhã a frase “nenhum direito a menos” pode deixar de fazer qualquer sentido porque já se foram todos. É com os índios que acontece primeiro. Desde 1500, como se sabe”. Brum evoca a frase de Luis Fernando Verissimo: “No Brasil, o fundo do poço é apenas uma etapa”. Mas, constata, “o fundo do poço não existe nem como abstração no governo-9%-de-aprovação-8-ministros-investigados-pela-Lava-Jato-Temer”. As cenas dos indígenas atacados pela polícia ao ocuparem Brasília para fazerem um protesto, Brum é certeira ao apontar que foram “cenas do tempo da ditadura reeditando-se hoje, mas certa imprensa que tem problemas com o conceito não de pós-verdade, mas de verdade mesmo, chamou de ‘confronto’. É um exercício interessante imaginar como cobririam o ‘confronto’ ocorrido em 1500”.
Para o cineasta Pier Paolo Pasolini, nosso mundo inverteu a situação dantesca: na oitava vala infernal de Dante, o espaço é todo constelado de pequenas chamas que parecem vaga-lumes; no Paraíso, a grande luz se expandirá por toda parte em sublimes círculos concêntricos, luz de dilatação gloriosa, nas no Inferno, as pequenas luzes vagam fracamente, em um breu de pecados feito para que “cada chama contivesse um pecador”. Porém, sobretudo com o fascismo, as grandes luzes passaram a ser comandadas pelos grandes projetores ideológicos, o inferno é que é exposto na glória do reino político, e as luminescências passaram a corresponder aos frágeis corpos desnudos frente às máquinas políticas, que tentam escapar como podem à ameaça, à condenação que a partir de então atinge sua existência. No famoso “O artigo dos vaga-lumes”, escrito em 1975, Pasolini trata sobretudo, como um lamento fúnebre, da morte dos vaga-lumes, essas fulgurações figurativas de momentos de graça que resistem ao mundo do terror: lampejos de inocência encarnados, em um contexto político e histórico marcado pelo aniquilamento da inocência graças ao fascismo triunfante. Pois, ainda que Mussolini houvesse sido executado e pendurado pelos pés, Pasolini diagnostica, a partir da metade da década de 1960, “algo” que deu lugar a um “fascismo radicalmente, totalmente e imprevisivelmente novo”, que, tomado em dimensão antropológica, é responsável por um enfraquecimento cultural ou, nas palavras do cineasta, um “genocídio cultural”. O verdadeiro fascismo para ele, como analisa Didi-Huberman, em seu A sobrevivência dos vaga-lumes, “é aquele que tem por alvo os valores, as almas, as linguagens, os gestos, os corpos do povo. É aquele que ‘conduz sem carrascos nem exceções em massa, à supressão de grandes porções do própria sociedade’, e é por isso que é preciso chamar de genocídio essa ‘assimilação (total) ao modo e à qualidade de vida burguesa’”. Segundo Didi-Huberman: “Com a imagem dos vaga-lumes, é toda uma realidade do povo que, aos olhos de Pasolini, está prestes a desaparecer. Se a ‘linguagem das coisas mudou’ de forma catastrófica, como diz o cineasta em suas Lettres luthériennes [Cartas luteranas], é porque, em primeiro lugar, o ‘espírito popular desapareceu’”. O filósofo francês, porém, questiona o fatalismo de Pasolini. Para produzir o lampejo e a esperança intermitentes dos vaga-lumes, a organização do pessimismo faz surgirem palavras, segundo Didi-Huberman, “quando as palavras parecem prisioneiras de uma situação sem saída”. A elucidação da linguagem torna-se uma réplica das “palavras-vaga-lumes”. Para ele, são “imagens para protestar contra a glória do reino e seus feixes de luz crua. Os vaga-lumes desapareceram? Certamente não”.
Se a narrativa indígena brasileira está, ainda, em vias de desaparecer, é hora de juntar toda a luminescência das palavras vaga-lumes. Pois considerável parte da história do genocídio destes povos, é mais recente do que se supõe: desde a ditadura militar no Brasil, é intensamente escrita, mas poucas vezes lida em voz alta. A questão das mortes indígenas durante a ditadura militar no Brasil é um de nossos silêncios mais eloquentes e densos. Não há publicações sobre o projeto de ocupação nacional e a consequente morte das populações indígenas.
Para citar apenas um dos casos emblemáticos, a obra de construção da rodovia Transamazônica, a BR-174, que ligaria Manaus a Boa Vista e Roraima, foi iniciada em 1968 e durou até 1976; em 1974, houve um grande embate entre os índios e as frentes de atração da FUNAI e o exército foi então enviado, com homens e fuzis que compunham a Infantaria de Selva, para “garantir” a construção: neste caso, toda a etnia waimiri-atroari foi dizimada.
Ainda assim, o número de índios mortos é absurdamente impreciso, pois não havia um recenseamento das tribos. As estimativas variam de 300 a 2.000 mortos. A imprecisão, era deliberada, parte do programa da censura, para evitar a conscientização da população.
Em entrevista à Revista Cult, Viveiros de Castro disse: “O Brasil não existe. O que existe é uma multiplicidade de povos, indígenas e não indígenas, sob o tacão de uma “elite” corrupta, brutal e gananciosa, povos unificados à força por um sistema mediático e policial que finge constituir-se em um Estado-nação territorial. Uma fantasia sinistra. Um lugar que é o paraíso dos ricos e o inferno dos pobres. Mas entre o paraíso e o inferno, existe a terra. E a terra é dos índios. E aqui todo mundo é índio, exceto quem não é”.
Parques nacionais com limites reduzidos, legalizações de áreas fundiárias griladas, em especial na Amazônia, agendas políticas que privilegiam despudoradamente a bancada ruralista. A aldeia Gamela, no dia 30 de abril, sofreu um ataque brutal por parte de criminosos contrários à retomada dos indígenas no Povoado das Bahias, no município de Viana (MA); o massacre envolveu a amputação de membros do corpo de dois indígenas, cinco baleados, dos quais dois tiveram também as mãos decepadas, treze índios feridos a golpes de facão e pauladas. Um dos índios disse: “Tememos novos ataques a qualquer momento. A concentração de jagunços segue estimulada e organizada no Santero, o mesmo lugar de onde saíram ontem pra fazer essa desgraça com o povo da gente. A polícia tá dizendo que não foi ataque, mas confronto. Não é verdade, fomos pegos de tocaia”. Este é só um caso, terrivelmente, não isolado. De acordo com o jornalista Leonardo Sakamoto:
“Seria bom poder cobrar uma atitude firme das autoridades e entender que se trata de um ponto fora da curva, de uma barbárie excepcional, resquício de antigas práticas violentas, hoje inaceitáveis. Nada disso: excetuando-se, talvez, o detalhe macabro da amputação das mãos, o episódio é só mais um alerta sobre a tensão que se acumula em muitas partes do Brasil, hoje, em função de diversas opções do atual governo.
Para agradar à base ruralista e evangélica, o governo está criando o caos na já precária assistência aos povos indígenas, via Funai e serviços de saúde da Sesai. Descria e cria cargos, muda diretores, contingencia orçamentos já minguados, submete cargos de extrema delicadeza política ao crivo de parlamentares no Congresso, vários deles associados a grupos ávidos por usar a estrutura do Estado para apoiar interesses, como os do proselitismo religioso. Mal um novo nomeado começa a tomar pé da situação e assumir compromissos, como era o caso de Antonio Costa¹, na Funai, já recebe a notícia de que será demitido. Obviamente, não há como tirar outra conclusão: a intenção é paralisar totalmente os trabalhos na área.
Um deputado ruralista chegou a dizer, recentemente, que a próxima medida a ser preparada pelo governo será a ‘reforma dos indígenas’. Pelo jeito, só se for bem à moda das demais reformas propostas atualmente: um desmanche, na verdade”.
Parece um pouco difícil acreditar nos vaga-lumes. Indicamos este vídeo como um, bem como suas duas reivindicações: Demarcação dos territórios indígenas já! Deixa os índios lá: no lugar que já é seu, simplesmente.
O poeta André Vallias, com seu poema Totem, criou o que muitos consideram o “(contra-)hino” de nossos tempos: o poema foi escrito a partir de 222 nomes de povos indígenas. Compostas numa tipologia criada pelo autor, as 26 estrofes do poema tem como imagem de fundo o Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendajú. Na introdução ao livro, Eduardo Viveiros de Castro contextualiza: “A situação dos Kaiowá, que habitam um estado arrasado pela monocultura de exportação, é uma das mais terríveis por que passam as minorias étnicas do planeta, implacavelmente ignoradas, quando não deliberadamente exterminadas, pelos entes soberanos nacionais e pelos interesses econômicos internacionais”. O antropólogo conta que os “Kaiowá ganharam notoriedade com a divulgação de uma carta indignada, dirigida às autoridades pelos membros de um de seus “acampamentos” de beira de estrada ou fundo de pasto (a isto estão reduzidos). Cansados de serem perseguidos, escorraçados e assassinados por fazendeiros, políticos e outros próceres de nossa brava nação brasileira, pediam que os matassem todos de uma vez antes que aos pouquinhos. Essa carta furou o muro de silêncio hipócrita que costuma impedir que as vozes indígenas sejam ouvidas pelos demais cidadãos do país, e, graças ao circuito informal das redes sociais da internet, acabou tendo que ser divulgada pela mídia convencional”.
Para Viveiros de Castro, “os Kaiowá somos nós. Os índios não são “nossos índios”. Eles não são “nossos”. Eles são nós. Nós somos eles. Todos nós somos todos eles. Somos outros, como todos. Somos deste outro país, esta terra vasta que se vai devastando, onde ainda ecoam centenas, milhares de gentílicos, etnônimos, nomes de povos, palavras estranhas, gramáticas misteriosas, sons inauditos, sílabas pedregosas mas também ditongos doces, palavras que escondem gentes e línguas de que sequer suspeitávamos os nomes. Nomes que mal sabemos, nomes que nunca ouvimos, mas vamos descobrindo”. O antropólogo ainda analisa: “No fim das contas, todo nome é sempre isso, uma alegação que pede uma ligação, o apelo a uma outra coisa (do) que se é. Nomear é repetir o ser com uma diferença. Este é o método do totem. […] O poema de André Vallias é isso — um totem. Um poema que diz o que somos, quem somos, nossos nomes, os nomes de nossos “antepassados” míticos que nos distinguem no desconcerto das nações”. Segundo ele, “todo povo é um nome. Todo nome é um meme. Uma memória sonora que não vai-se embora. Que este totem de André Vallias em forma de onomatopoema possa dar um sentido mais puro às palavras da tribo”
Segundo Alexandre Nodari, em artigo sobre o livro Há um mundo por vir? – e sua retumbante pergunta título -, aponta que a “questão maior talvez seja a do ponto de vista: Nós quem, cara pálida?, parecem perguntar ao seu principal interlocutor, de modo sutil mas provocante ao longo desse ensaio, Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, os quais […] insistem a todo momento em colocar o dedo na ferida: quem é esse nós (o “sujeito” que se vê novamente na Era do Descobrimento, o mesmo “sujeito” do Descobrimento), quem é o anthropos do Antropoceno? E quem são os outros, quem são esses “nós-outros” que estavam do lado de lá (de cá) do Descobrimento, para os quais este foi uma Conquista, um primeiro – de muitos – fim de mundo? Há mundo por vir? […] são justamente linhas de fuga (e não identidades e oposições) que Danowski e Viveiros de Castro apresentam a partir desses encontros de fins de mundo: a possibilidade (e talvez a necessidade) de um “bom encontro” da nossa (?) mitologia com a ameríndia, para se contrapor ao “mau encontro” da Descoberta (o genocídio americano, mas também a polícia mundial que a nova Era pode trazer). […] O que se questiona é a própria oposição binária (o princípio da não-contradição) das identificações: o que está em jogo é um exercício de descentramento, em que o “ser-enquanto-outro” do pensamento ameríndio permite repotencializar também aqueles momentos do pensamento ocidental em que o Ocidente difere de si mesmo (Deleuze e Guattari, a monadologia panpsiquista de Gabriel Tarde, a cosmologia de Peirce – e, eu acrescentaria, talvez mesmo a oikeiosis estóica, já que estamos falando de ecologia), em que a alteridade deixa vestígios erráticos que são roteiros de um mundo por vir”.
“Índio é nós”: “Aos crimes perpetrados contra os povos indígenas, soma-se outro: a grande imprensa cala-se sobre eles. O silenciamento é uma das violências habitualmente cometidas contra esses povos”.
Autores: Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro
Editora: Cultura e Barbárie, co-edição com o Instituto Socioambiental (ISA)
Preço: R$ 35,00 (176 págs.)
_____________
1. Sobre isso, citamos o comentário de Eliane Brum, no mencionado artigo “Os que apodrecem”, a respeito da decisão do governo de “entregar a Funai para o Partido Social Cristão (PSC). Assim, tipo um agrado para o partido da sua base aliada: ‘Pega aí a Funai pra vocês’. O PSC notabiliza-se pela qualidade de seus expoentes: do pastor Marco Feliciano, aquele que diz que os ‘africanos descendem de ancestral amaldiçoado de Noé’, ao militar da reserva Jair Bolsonaro, que defende torturadores e se orgulha disso. Dono da Funai, o PSC, este partido que merece um estudo mais aprofundado, colocou Antônio Costa na presidência. Não mais um general, mas um pastor evangélico para cuidar das questões indígenas. […] [Para Antônio Costa] os indígenas devem ser inseridos no ‘sistema produtivo’ e a mineração em suas terras ancestrais regulamentada o mais rápido possível. Seu chefe, o ruralista e ministro da Justiça Osmar Serraglio (PMDB), nomeado pelo governo-9%-de-aprovação-Temer, havia dito dias antes que era preciso parar com essa discussão sobre demarcação de terras indígenas porque ‘terra não enche barriga de ninguém’. Para acelerar o processo de desproteger as terras indígenas já protegidas e jamais proteger as que ainda precisam ser protegidas, o ministro-da-justiça-para-mim-e-meus-amigos-ruralistas extinguiu 347 cargos comissionados da Funai, que naquele momento mal conseguia trabalhar por falta de pessoal”.
 Send to Kindle
Send to Kindle