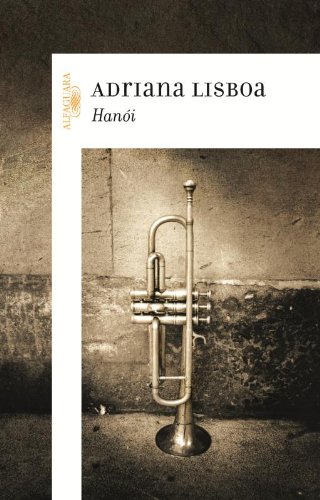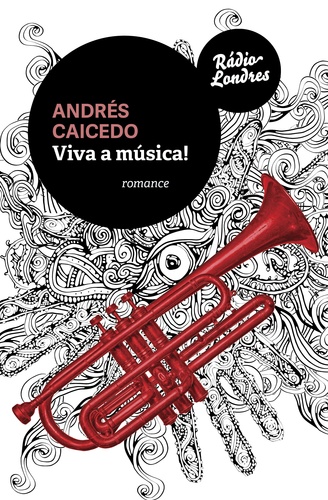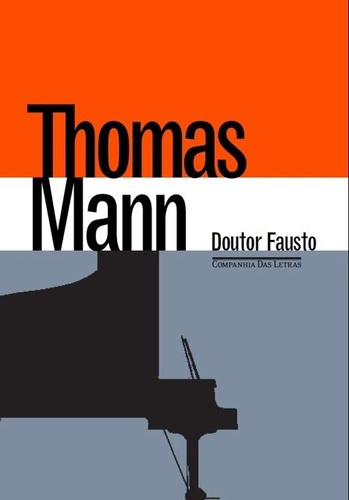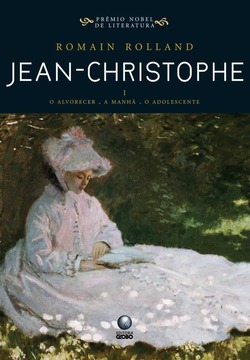Fala-se sempre das imbricações da literatura com artes como a pintura, a dramaturgia ou o cinema. A relação das letras com os sons fica no geral a cargo dos filósofos, dos filólogos e dos poetas. Mas a relação pode ser, também, mais direta.
Aqui elencamos algumas narrativas cujos protagonistas são músicos, ou entusiastas da música a ponto de, embora não tocarem nenhum instrumento, viverem para sua própria sensibilidade musical.
A escritora brasileira Adriana Lisboa, em Hanói, conta a história de David, um brasileiro de 30 e poucos anos radicado em Chicago, filho de uma imigrante mexicana, que toca trompete e é apaixonado por jazz. O romance foi um dos finalistas do Prêmio Portugal Telecom de 2014.
Em entrevista concedida em 2013 ao jornalista Luciano Trigo e publicada no blog “Máquina de escrever”, a autora disse, sobre o protagonista músico: “Eu queria trabalhar com um personagem músico, pela primeira vez. Tive ajuda de algumas pessoas para compô-lo – um amigo trompetista, sobretudo. As passagens de David no livro foram quase sempre escritas ao som das músicas que faziam parte da vida dele”. Na mesma entrevista, Lisboa ainda conta e analisa: “Fui musicista durante mais de dez anos. Isso, ao lado da leitura de poesia, que sempre me acompanhou, tornam a musicalidade do próprio texto muito importante para mim. Em “Hanói,” a música se entrelaça na narrativa com um personagem trompetista. Cheguei a criar uma playlist para o livro. Acho também relevante o fato de que a música muitas vezes serve de ponte entre culturas, transcendendo questões de idioma (uma barreira para a literatura), e me fascina a capacidade fraternizadora do jazz. Essa união que parecemos ter às vezes com as outras pessoas na plateia de um show. A música ao vivo é uma experiência única, que você não leva para casa nem mesmo num CD. Que testemunha, experimenta num momento e lugar específicos, que vem e passa, mas que fica, na medida em que forma a sua experiência. Quando David começa a se descartar de tudo o que tem, a música fica. O seu trompete fica, a sua vontade de ir a concertos de jazz, e sua vontade de terminar a vida ouvindo Ella Fitzgerald cantando “Sweet Georgia Brown”.
Diagnosticado com uma doença terminal, eis como David sente-se: “De todo modo, era uma pena saber que não ia mais poder tocar o seu trompete, nem ia mais poder ouvir Miles tocando ‘Round Midnight’ ou ‘Spanish Key’, o que era ainda pior do que não poder mais tocar ele próprio”. O romance é pontuado por referências musicais, desenvolvendo-se, mesmo, à guisa de melodias.
Referência literária colombiana, Andrés Caicedo (1951-1977) recebeu este ano, pela primeira vez, uma edição brasileira: Viva a música! chegou às nossas livrarias pela editora Rádio Londres. Foi o único romance publicado por Caicedo, mas ainda assim responsável por uma revolução na produção literária da Colômbia.
O romance, publicado originalmente em 1977, é narrado por uma garota loira, rica e obcecada por música, que vive por e para música, da qual desfruta ao abandonar as convenções sociais e lançar-se numa vida de festas e drogas na noturna Cáli da década de setenta.
A estratégia narrativa do autor é apresentar as ações através da narradora protagonista, deixando assim ao leitor o trabalho interpretativo e reflexivo. Viva a música! capta as ambiguidades e as crises culturais, não somente da Colômbia, mas da América Latina, com sutileza e um impacto avassalador. O romance é um dos mais relevantes textos de caráter político de sua época.
A protagonista, conta, logo no princípio de sua narrativa: “Todos, menos eu, entendiam de música. Porque eu andava ocupada com mil outras coisinhas. Era uma menina ótima. Bem, nem tão ótima assim, afinal sempre teimava, desobedecia minha mãe e respondia atravessado pra ela. Mas lia meus livros, e lembro muito bem das três reuniões que fizemos para estudar O Capital, eu, Armando o Grilo (Grilo por causa dos olhos de sapo que ele passeava, abobado, pelos meus joelhos) e Antonio Manríquez. Foram três manhãs, essas reuniões, e posso jurar que entendi tudo, direitinho, toda a cultura da minha terra. Mas não quero pegar o hábito de ficar pensando nisso: uma coisa é memória, e outra coisa é querer relembrar de propósito um empenho assim, uma fidelidade como essa.
“O que eu quero é começar a contar tudo desde o primeiro dia que faltei às reuniões, e que fazendo as contas eu vejo também que coincide com a minha entrada no mundo da música, o mundo daqueles que gostam de ouvir e de dançar. Vou contar com detalhes: o estimado leitor pode ficar tranquilo pois garanto que não vou cansá-lo, eu sei ser cativante”.
Andrés Caicedo foi uma das vozes mais inteligentes, lúcidas e intensas de seu tempo.
O Doutor Fausto de Thomas Mann foi criado como um ícone do gênio artístico e filosófico alemão.
Mann conta a vida de um estudante de teologia, Adrian Leverkühn, através da narrativa de seu amigo, o estudante de filosofia Serenus Zeitblom. O jovem teólogo, dotado de um talento notável para a matemática e para a música, resolve dedicar-se à música. Ao longo do livro, a história da Alemanha da primeira metade do século XX é contada, paralelamente à ascensão de Adrian. No célebre capítulo 25, o protagonista trava um “diálogo” com o Diabo, estabelecendo o pacto que motiva a homenagem prestada à famosa lenda alemã do Fausto, tão bem desenvolvida sob a pena de Goethe, presente desde o título na obra de Mann.
O próprio diabo é quem diz: “Acho que o Diabo deve entender-se de Música. Se não me engano, lias há pouco um livro daquele cristão apaixonado pela Estética. Ele, sim, estava a par do assunto e conhecia muito bem minha relação com essa linda arte – a mais cristã de todas, na opinião dele – porém, julgava-a de modo negativo, como uma arte instituída e desenvolvida pelo cristianismo, mas rejeitada e proscrita por pertencer ao feudo do Demônio. Estás vendo? A Música é uma matéria altamente teológica, da mesma forma que o pecado, da mesma forma que eu”.
Para criar um personagem músico, artista contemporâneo que provoca uma ruptura vanguardista na tradição, inspirado na revolução que criou Schoenberg, Thomas Mann teve que aprofundar seus estudos e reflexões, revendo sua própria cultura musical, por si só, notável. Para mas também estudar e escrever sobre as experiências de criação de seu protagonista, contou com a ajuda do filósofo Theodor Adorno, conhecido por sua crítica musical. Mann entregou a Adorno os manuscritos do livro, para que, como se se tratasse de uma tese ou artigo, o crítico pudesse conferir os capítulos dedicados à música, orientando o escritor. Disse, Mann, sobre o relacionamento intelectual com Adorno: “Encontrei um crítico artístico e sociológico de nossa situação atual da mais sutil, progressiva e profunda espécie, que demonstra uma tocante afinidade com a concepção central do meu próprio trabalho, no qual estava então envolvido”. Como analisa , o fato “é que o contato com o ensaio de Adorno sobre Schoenberg viria a estimular intrincadas discussões não apenas sobre a articulação geral de Doutor Fausto, quanto ainda sobre detalhes teóricos bastante específicos a respeito do estado da arte da composição musical”.
O Diabo propõe a Adrian: “A fase da Cultura e de seu culto serão superadas por ti; terás a audácia de uma barbárie duplamente bárbara”. Adrian enfatiza o caráter “teologicamente negativo” de seu drama musical, dando a Zeitblom a impressão de ouvir os sons produzidos por “uma queda sem esperança num escancarado abismo”.
“A música é o demoníaco”.
Jean Christophe, de Romain Rolland, foi a obra que fez render a seu autor o Prêmio Nobel de literatura, em 1915. O romance, desenvolvido ao longo de dez volumes, foi publicado entre 1904 e 1912. A narrativa é dividida em dezenove episódios independentes, todos protagonizados por um músico alemão do século XIX, que dá título ao conjunto. Rolland foi professor de História da Música na Sorbonne e suas críticas e artigos sobre música tornaram-lhe famoso pela Europa. Em 1910, abandonou as aulas e passou a dedicar-se à literatura.
Jean-Christophe, segundo as palavras do autor, é um “roman-fleuve”, com sua prosa fina e fluida, pontuada por sentimentos humanistas e ideias filosóficas. Ao acompanhar a vida do músico Jean-Christophe, de seu nascimento à sua morte, Rolland tece críticas sociais e aborda questões de luta classe, além de criticar o perigo de guerra e, mesmo, realizar um protesto latente contra ela e contra o massacre imperialista. “Todo rico é um ser anormal… Estás rindo? Zombas de mim? Ora essa! Sabe lá o rico o que é a vida? Fica ele acaso em comunhão com a rude realidade? Sente ele no rosto o sopro feroz da miséria, o cheiro do pão por ganhar, da terra a revolver? Pode lá compreender, pode ver sequer os seres e as coisas?…”
O romance, assim, desenvolve-se sobre um conteúdo crítico severo, ao militarismo, à corrupção, ao cinismo, à exploração trabalhadora. “– Sim, eu sei, isto lhe parece uma barbárie pré-histórica: matar! É preciso ouvir essa linda sociedade parisiense protestar contra os instintos brutais que levam o macho a matar a fêmea que o engana, e preconizar a indulgente razão! Que bons apóstolos! É uma beleza ver essa matilha de cães de má cruza indignar-se contra a volta à animalidade. Depois de terem ultrajado a vida, depois de a terem desvalorizado por completo, cercam-na de um culto religioso… O quê! Essa vida sem coração e sem honra, essa matéria, esse pulsar de sangue num pedaço de carne, eis o que lhes parece digno de respeito! Toda a consideração é pouca para essa carne de açougue; é um crime tocar nela. Matem a alma, se quiserem, mas o corpo é sagrado…”
O protagonista sofre o sofrimento do mundo. O músico genial, inovador, compositor precoce, é uma personagem concebida à imagem de Beethoven, cuja vida desenrola-se na virada do século XIX e XX
“Estava sereno. Agora compreendia. Compreendia a vaidade de seu orgulho, a vaidade do orgulho humano, sob o punho temível da Força que move os mundos. Ninguém é senhor de si, com segurança. É preciso vigilar. Porque, se adormecemos, a Força precipita-se sobre nós e nos arrasta… para que abismos? Ou a torrente se retira e nos deixa em seu leito seco. Não basta mesmo querer lutar. É preciso humilhar-se ante o Deus desconhecido, que flat ubi vult, que sopra quando quer, onde quer, o amor, a morte, ou a vida. A vontade do homem nada pode sem a sua. Um segundo lhe basta para aniquilar anos de labor e de esforços. E, se lhe apraz, pode fazer surgir da lama o eterno. Ninguém, tanto como o artista criador, se sente a sua mercê: porque se é verdadeiramente grande, nada mais diz além daquilo que o espírito lhe dita. E Christophe compreendeu a sabedoria do velho Haydn, pondo-se de joelhos, cada manhã, antes de tomar a pena… Vigila et Ora. Rogai a Deus, a fim de que esteja convosco. Ficai em comunhão amorosa e pia com o espírito da vida.”
Machado de Assis, em alguns destes 50 contos selecionados por John Gledson, utiliza, com a maestria literária que lhe é peculiar, termos e formas emprestados da música – compondo caracterizações irônicas, de personagens e enredos e sutilezas de ambientações emocionais. Caso exemplar é o conto “Um homem célebre”, que narra a história de Pestana: um famoso compositor de polcas, frustrado, pois sua ambição jamais alcançada era compor música clássica.
“A fama do Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polcas; mas o primeiro lugar da aldeia não contentava a este César, que continuava a preferir-lhe, não o segundo, mas o centésimo em Roma.”
A fama de suas polcas de nada valem, pois Pestana as considera um gênero inferior. A música erudita, consagrada pela crítica como objeto nobre seria capaz de imortalizar seu compositor; as peças clássicas seriam “obras sérias, profundas, inspiradas e trabalhadas”. À noite, o infeliz músico, debruçava-se sobre seu ideal e, à luz das velas, pensando em Chopin ou Beethoven, punha-se a tentar, em vão, compor.
“Entre meia-noite e uma hora, Pestana pouco mais fez que estar à janela e olhar para as estrelas, entrar e olhar para os retratos. De quando em quando ia ao piano, e, de pé, dava uns golpes soltos no teclado, como se procurasse algum pensamento; mas o pensamento não aparecia e ele voltava a encostar-se à janela. As estrelas pareciam-lhe outras tantas notas musicais fixadas no céu à espera de alguém que as fosse descolar; tempo viria em que o céu tinha de ficar vazio, mas então a terra seria uma constelação de partituras”.
A cena, patética, mostra Pestana em meio a fotografias, a “estrelas em espera”: apenas mais uma figura em meio a ideais longínquos no tempo e no espaço. Na parede, pendurados, repousavam os retratos de Mozart, Gluck, Bach, Schumann, a “postos ali como santos de uma igreja. O piano era o altar; o evangelho da noite: lá estava aberto: era uma sonata de Bethoven”. Mas a inspiração não lhe vinha. E, na manhã seguinte, sem nenhum esforço, eis que uma nova polca surgia-lhe por entre os dedos ao piano.
Em O enigma do olhar [Ática, 1999], Alfredo Bosi aponta que muitos dos contos de Machado são “contos-teoria” ou “contos-exemplo”: a vida em sociedade ganha a natureza do corpo, “na medida em que exige máscaras, vira também irreversivelmente máscara universal […] a necessidade de proteger-se e de vencer na vida – modo universal – só é satisfeita pela união ostensiva do sujeito com a aparência dominante”. Este é certamente o caso de “Um homem célebre”, que mostra a cultura como “um complexo de sentimentos de desconforto e percepções críticas resistentes”.
A música, já o dizia o filósofo Lessing, desenvolve-se no tempo, ao passo que a pintura desenrola-se no espaço; a literatura, como trabalha com construção de imagens, porém, talvez fique a meio caminho de ambos.
 Send to Kindle
Send to Kindle