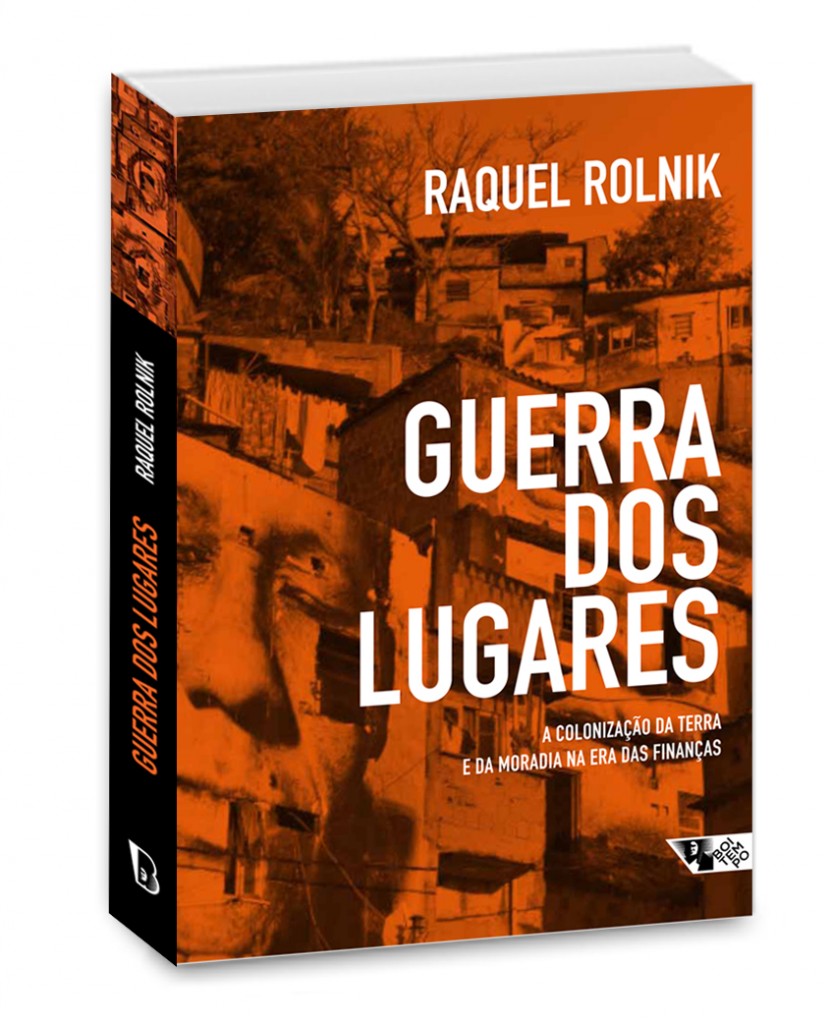O recém lançado Guerra dos lugares – A colonização da terra e da moradia na era das finanças, da urbanista Raquel Rolnik, foi definido pelo geógrafo David Harvey como “uma obra fantástica, uma denúncia devastadora”.
Trata-se da reunião de reflexões que Rolnik desenvolveu ao longo e imediatamente após o término de seu mandato como relatora para o Direito à Moradia Adequada, da ONU. O livro traça análises profundas sobre o processo global de financeirização das cidades e seu impacto sobre os direitos à terra e à moradia dos mais pobres – e, portanto, mais vulneráveis.
A urbanista investiga o processo que levou às recentes transformações nas políticas habitacionais e fundiárias em vários países do mundo, pontuando, como marco, a expansão de uma economia neoliberal globalizada, controlada pelo sistema financeiro, causa que teria levado, segundo sua análise, a um processo global de insegurança da posse. A mesma questão, no livro, também é analisada especificamente no caso brasileiro – fazendo a leitura da evolução recente das políticas habitacionais e urbanas no Brasil, inclusive as ocorridas na era Lula, à luz desses processos globais.
É original, em sua análise, o entrelaçamento sugerido entre as políticas habitacionais e a política urbana, que são articuladas pela autora através da complexa questão da construção da hegemonia da propriedade individual e da transmutação dos imóveis em ativos.
Em entrevista concedida à revista Carta Capital, Rolnik, quando questionada sobre como a moradia passou de direito a ativo financeiro nas últimas décadas, disse: “Desde os anos 1930, os Estados Unidos possuíam uma política para subsidiar a produção da casa própria e outra para a construção de conjuntos habitacionais, alugados para os setores da população com menor renda. Havia uma grande quantidade de conjuntos bem localizados nas cidades. A partir da década de 1980, eles começam a decrescer, enquanto o financiamento hipotecário aumentava radicalmente. Uma das principais falácias do neoliberalismo é a defesa de que a questão da moradia não deve ser um problema do Estado. O financiamento da cartilha neoliberal não diminui o gasto público, ao contrário. O modelo de crédito hipotecário serve para expandir o mercado financeiro internacional, não para atender às demandas habitacionais da população mais pobre e vulnerável”. Nesse sentido, o programa social brasileiro conhecido como “Minha casa minha vida”, diz Rolnik, é, em alguns sentidos, insuficiente: “A primeira deficiência do programa é sua dificuldade em produzir moradias em regiões centrais. Geralmente são localizações muito periféricas, distante das oportunidades de trabalho. Além disso, o programa tem forte relação com a remoção de comunidades localizadas nos centros das grandes cidades. Há uma conexão entre as políticas massivas de produção de moradias e a abertura de frentes de extração para o complexo imobiliário financeiro, como é o caso de grandes projetos urbanos, como o do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e o da Cidade da Copa, no Recife. […] Para as famílias extremamente vulneráveis, tem de haver outras opções, entre elas programas de locação social, de assistência técnica para autoconstrução e de urbanização”. O programa falha ao transformar o conjunto de políticas habitacionais do país em um modelo único, incluindo inclusive processos de urbanização de favelas. Os processos de urbanização obedecendo a modelos unificados podem ser algo completamente inadequado para as demandas locais e para a situação de muitas famílias, sobretudo as mais pobres.
Em outra entrevista, concedida ao jornal Zero Hora, Rolnik diz, sobre o que acredita serem os agentes do que chama de “financeirização da moradia”: “Evidentemente estamos falando do neoliberalismo, do modelo em que, em tese, o Estado cai fora do negócio da moradia, porque é um negócio, e o mercado poderia dar conta disso. O setor moradia é um dos primeiros que foram objeto de reformas neoliberais nos países que implantaram processos de reforma dos seus modelos anteriores de bem-estar social. O que podemos identificar como elemento comum a todas as experiências é o protagonismo do Estado nesse processo, e não só no sentido de que o Estado foi bastante responsável por destruir a política anterior e promover uma nova, como também porque recursos públicos vultosos foram mobilizados para isso. De certa maneira, meu livro questiona essa ideia de que é um Estado mínimo, de que o Estado não faria mais nada, deixando para o mercado e com isso economizaria. Isso é uma falácia. Na verdade, tem uma pesadíssima mão do Estado nesses processos de transformação. Além disso, há uma enorme participação de recursos públicos. Aí depende do modelo de cada um”. Sobre o programa brasileiro “Minha casa minha vida”, ela diz: “O que eu advogo é, primeiro, voltar a ter políticas habitacionais locais. É importante dizer que a gente tinha (estas políticas) em poucos lugares e (como experiências) muito pequenininhas ainda. Mas o pouco que tinha foi desmontado, e o que se faz agora é puramente ‘rodar’ o Minha Casa Minha Vida. Temos que ter políticas de locação social, políticas de urbanização de assentamentos, integração desses assentamentos à cidade, políticas de autogestão, cooperativas, fortalecimento das formas não mercantis de produção habitacional, de assistência técnica para a autoconstrução, tudo que está no nosso marco regulatório, um marco que “existe mas não existe”. Na prática, não é implantado. Isso estava se instalando muito incipientemente nas cidades, e o Minha Casa Minha Vida simplesmente anulou todo esse esforço”. Segundo a urbanista, o “elemento mais perverso do Minha Casa Minha Vida é exatamente ser um modelo único. A ideia poderia continuar, mas, primeiro, não é o mais adequado, dependendo da faixa. As faixas 2 e 3, que não são para os mais pobres, poderiam continuar como opção para as famílias. Essa opção pode existir frente a outras pelas quais várias famílias podem se interessar. Agora, na faixa 1, de mais baixa renda, temos um problema realmente sério. Para as famílias mais pobres e vulneráveis, o modelo da casa própria, do condomínio de casas próprias, não funciona. É insustentável no longo prazo, do ponto de vista da manutenção, da gestão desses conjuntos. Exatamente as famílias de baixa renda hoje têm acesso a esses conjuntos pagando uma prestação baixinha, compatível com a renda delas, mas e o condomínio? Não tem a menor condição de organizar esses condomínios. Para a faixa 1, o Minha Casa Minha Vida me parece um programa muito inadequado. Para as faixas 2 e 3, poderia continuar, mas não como única opção”.
Segundo conta o jornalista Iuri Pitta, na introdução à entrevista concedida por Rolnik ao jornal O Estado de São Paulo e publicada no caderno Aliás, as “críticas de Raquel ao que chama de ‘colonização financeira da terra urbana’ surgiram desde o início do mandato na relatoria da ONU, mesmo período da crise hipotecária nos EUA. E nem sempre foram bem-aceitas. Em 2013, em sua última missão, a urbanista foi alvo de membros do Partido Conservador da Inglaterra e chegou a ser retratada pelo tabloide Daily Mirror como uma ‘feiticeira praticante de rituais de origem africana vindas das favelas putrefatas do Brasil’. O episódio foi o que lhe deu a ‘certeza de que este livro deveria ser imediatamente escrito e publicado’”.
Sua análise denuncia a verdadeira “guerra” de lugares que vivemos, um processo de mercantilização dos espaços, cuja análise abarca a crise urbana do país e entrelaça as políticas habitacionais e a política urbana.
Autor: Raquel Rolnik
Editora: Boitempo
Preço: R$ 47,60 (424 págs.)
 Send to Kindle
Send to Kindle