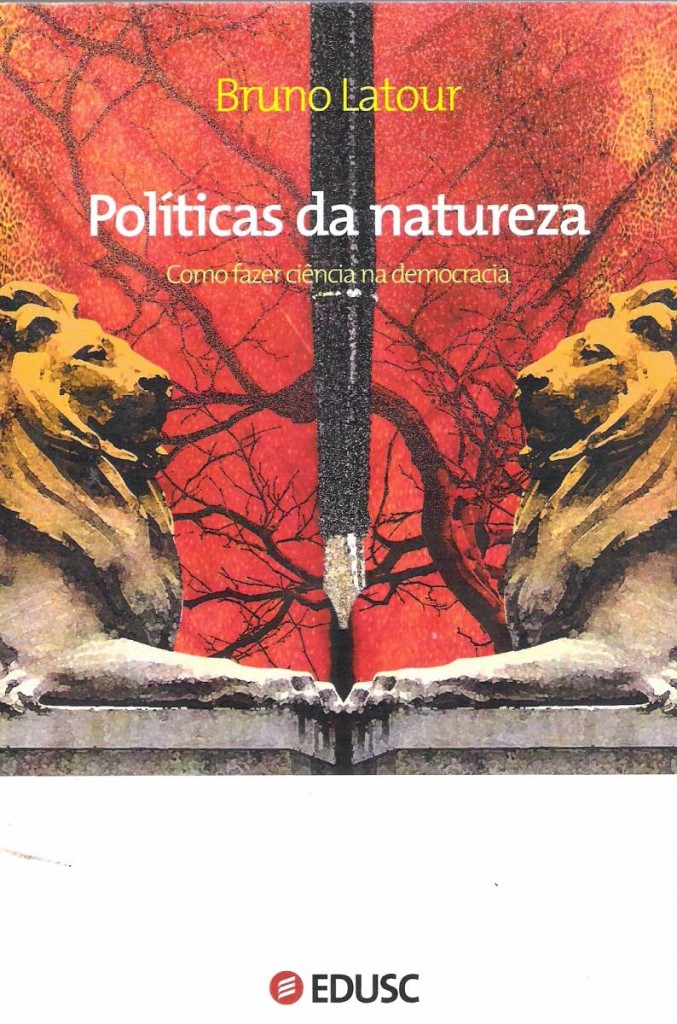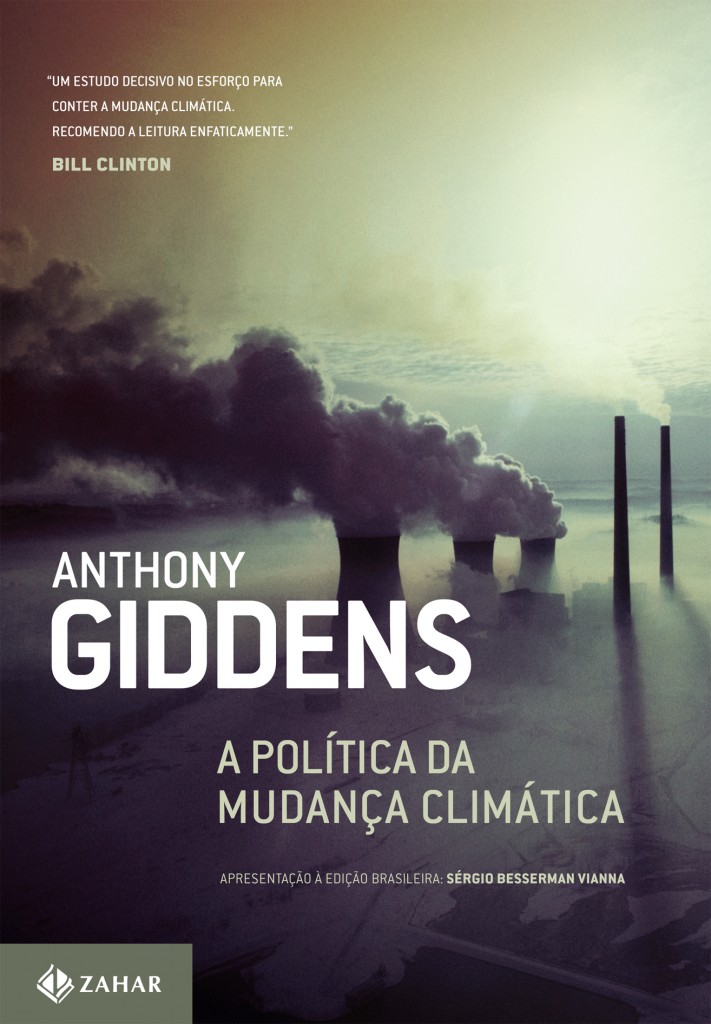O lançamento do livro de Leonardo Boff, A Terra na palma da mão – uma nova visão do planeta e da humanidade, nos fez pensar a respeito da imbricação necessária, mas sobnegada, da crítica ambientalista em relação à crítica política. Pois Boff, frente às graves crises, sobretudo social e ecológica, e respondendo às reflexões do Papa Francisco sobre “o cuidado da Casa Comum”, para o qual exige-se “uma conversão ecológica global” e mudanças profundas “nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder”, analisa a gravidade da atual situação e pergunta-se: para onde está caminhando o planeta Terra e a humanidade?
A ecologia e a política não são dissociadas uma da outra. E sua relação perpassa o “mito do progresso”, do qual é preciso ressaltar as implicações éticas e políticas, que são encobertas por sua dimensão ilusória – o ocultamento da pobreza, a dissimulação do comércio da saúde, a grave crise ambiental que o mito do avanço histórico oculta. O discurso do progresso é apropriado por interesses sectários das elites para a legitimação de seu acúmulo irrestrito de riquezas e a previsão lógica de sua perpetuação, simplesmente catastrófica.
Isabelle Stengers, em No tempo das catástrofes, realiza uma interessante intervenção no debate atual sobre a relação entre homem e natureza. A autora sugere o rompimento do conceito de infinidade de recursos no planeta. Ela também indica a necessidade de que, diante das atuais mudanças e desastres climáticos, haja uma mudança, também, na postura da impotência humana e na negligência governamental. Sob esse viés, ressalta o papel do indivíduo e a importância do resgate da relação de cada homem com a terra, encarando-a como um ser vivente.
Em entrevista concedida à revista “ClimaCom – Cultura Científica”, Isabelle Stengers conta como surgiu a atual nova história que vivenciamos e que seu livro anuncia: “Tive a convicção de que algo importante estava se passando em 1995, quando uma sondagem anunciou que uma maioria de franceses achava que suas crianças não viveriam melhor do que eles viveram. Não confiavam mais no ‘progresso’. Depois, tivemos as repetidas crises financeiras… No tempo das catástrofes foi escrito antes dessas crises. Na época, as revoltas da fome ligadas à especulação financeira e a história do furacão Katrina já eram excelentes exemplos daquilo que poderia muito bem estar nos esperando no futuro. A explosão das desigualdades sociais, a desordem climática, a poluição… fariam sempre mais estragos, mas o rumo do crescimento e da competividade seria mantido. Escrevi esse livro para resistir ao desespero, e para aqueles e aquelas que tentam escrever uma outra história, apesar das dificuldades: foi dito que hoje em dia é mais fácil enxergar o fim do mundo e da civilização que o do capitalismo. Mas os que estão buscando, todos eles sabem que a impotência que ressentimos faz parte do problema”. Diz ela que não há razão para ser otimista; o Estado e o capitalismo são os responsáveis pela destruição do ser humano e de seus meios de sobrevivência e o único meio de reverter o quadro alarmante é a autogestão planetária. Segundo a autora: “há dez anos venho constatando que existem lutas de um estilo novo. O combate contra os organismos geneticamente modificados (OGM), por exemplo, recriou um pensamento político a respeito do tipo de agricultura e de mundo que estamos construindo. Ele soube reaproximar camponeses, para quem os OGM são uma nova expropriação; anticapitalistas em luta contra a empresa das patentes; cientistas alarmados com as consequências. Todos eles aprenderam uns com os outros, e é por isso que o movimento conseguiu causar embaraço àquilo que se propunha como um progresso incontestável. Depois, a insubmissão se enriquece, ampara-se de novas questões”.
Em artigo publicado pelo jornal Valor Econômico, Luis Antônio Giron, que entrevistou Stengers, cita sua fala a respeito da restauração da noção de Rosa Luxemburgo, “de que o capitalismo nos leva ao caos e à barbárie, […] à destruição do planeta pela exploração e pelo esgotamento dos recursos naturais”. Prossegue Stengers: “Rosa compreendeu que a lógica marxista não garantia de forma alguma a vitória do socialismo”; a barbárie, pontua, “era uma possibilidade real e pode-se dizer que é a destruição da civilização que está em jogo. Ela se recusava a definir a civilização por aquilo que foi chamado de ´progresso´. Ora, o ´progresso´ destruiu os vínculos entre os seres humanos e seu meio, definiu esse meio por categorias utilitárias”.
Stengers tem formação científica, físico-química, e dedicou seus primeiros trabalhos e pesquisas às problemáticas do tempo e do irreversibilidade. Passou a interessar-se pela crítica da ciência moderna e escreveu comentários dos trabalhos de Foucault e de Deleuze. Começou depois a trabalhar também com a crítica da psicanálise e da repressão. Nas últimas décadas, vem dedicando-se a uma reflexão em torno da ideia de uma “ecologia das práticas”, de inspiração construtivista. Dessa vertente de estudos surgiram os volumes de Cosmopolitiques [sete volumes, publicados em 1997]. Nos últimos anos, enquanto colaboradora da revista Multitudes, Stengers vem abordando de maneira cada vez mais profusa o campo político, como em No tempo das catástrofes. Em sua última obra, Une autre science est possible! [Éd. Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2013], ela dá prosseguimento à reflexão anticapitalista.
Segundo ela: “A destruição do planeta é uma probabilidade forte. As catástrofes ecológico-industriais vão se multiplicar”. A dissolução do Estado, diz [no supracitado artigo], é, portanto, necessária: “O Estado, tal como o conhecemos, é uma invenção moderna, é aquele que diz ´ou eu ou o caos´. De qualquer forma, entramos em uma época caótica, e a questão é como evitar que o caos seja bárbaro. E ele será se as pessoas esperarem que o Estado as protejam, se não inventarem formas de cooperação, de adaptação ao meio, de práticas de atenção e de deliberação que o Estado confiscou”.
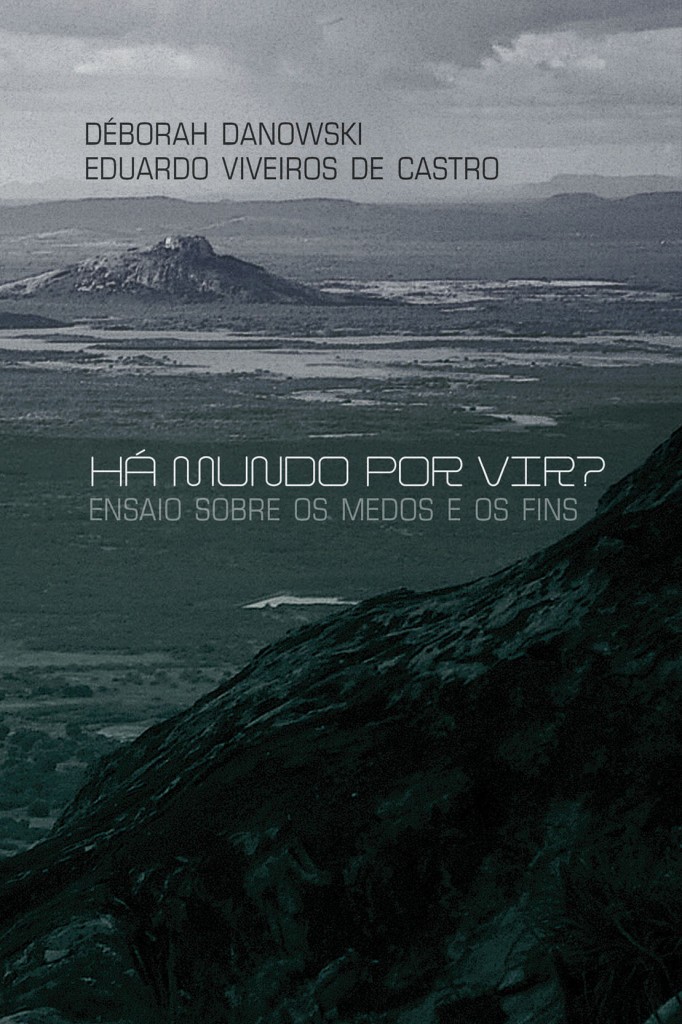
Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, “Há mundo por vir? – Ensaio sobre os medos e os fins”
A pergunta do título é desconcertante: Há mundo por vir?. O livro de Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, lançamento co-editado pela editora Cultura e Barbárie e pelo Instituto Socioambiental (ISA), propõe uma reflexão séria a respeito dos atuais discursos sobre “o fim do mundo”.
Como diz a apresentação do livro divulgada pela editora, atualmente, os materiais e análises sobre as causas (antrópicas) e as consequências (catastróficas) da “crise” planetária vêm se acumulando com extrema rapidez, mobilizando tanto a percepção popular quanto a reflexão acadêmica. Os discursos que traçam prognósticos fatalistas são, pelos dois autores, tomados como experiências de pensamento, como tentativas de invenção, não necessariamente deliberadas, de uma mitologia adequada ao presente.
Investigando qual a condição atual da tradição cultural ocidental, os autores a embatem com a maneira como ela é compreendida pelas culturas indígenas. A filosofia moderna pensou Deus, o homem e o mundo, porém as três noções encontram-se em crise: Deus morreu; a noção de homem moderno morreu; o mundo morrerá.
Segundo Alexandre Nodari, em artigo, a “questão maior talvez seja a do ponto de vista: Nós quem, cara pálida?, parecem perguntar ao seu principal interlocutor, de modo sutil mas provocante ao longo desse ensaio, Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, os quais […] insistem a todo momento em colocar o dedo na ferida: quem é esse nós (o “sujeito” que se vê novamente na Era do Descobrimento, o mesmo “sujeito” do Descobrimento), quem é o anthropos do Antropoceno? E quem são os outros, quem são esses “nós-outros” que estavam do lado de lá (de cá) do Descobrimento, para os quais este foi uma Conquista, um primeiro – de muitos – fim de mundo? Há mundo por vir? Ensaio sobre o medo e os fins, ao passar em revista algumas formulações – estéticas, filosóficas, etc. – da mitologia contemporânea em torno do fim do mundo, tornada realidade tangível (a “mitofísica” contemporânea, pra usar uma expressão genial dos autores), não adota a posição do demiurgo criador da ordem (Nomos), mas do deceptor que confunde as divisões (amigo-inimigo), que divide as divisões, que desobedece as hierarquias”. O fim do mundo é um tema riquíssimo do ponto de vista filosófico e político, pois o que está acabando é o mundo que começou em 1500. Trata-se do fim da era moderna.
Bruno Latour, no texto de orelha, analisa: “Aquilo que Isabelle Stengers chama de intrusão de Gaia é algo que nos faz perder todas as nossas referências. Sim, Gaia é uma intrusa, no sentido de que nada havia sido preparado, pensado, planejado, previsto, instituído para vivermos sob seu signo. Nada, ao menos, durante aquele período histórico que não cabe mais chamar de Modernidade. Havia, decerto, a Natureza, aquela grande figura fria, eterna e distante, capaz de ditar suas leis a todas as ações humanas — inclusive as leis da economia. Mas essa divindade nos parece, hoje, demasiado antiquada, de um antropocentrismo excessivamente ingênuo”. Segundo Latour, o “ensaio principia como um inventário, uma espécie de visita guiada ao pátio dos milagres das monstruosidades filosóficas e literárias em curso, algumas delas bastante em voga, outras menos conhecidas, mas todas sintomáticas do estado de alarme atual. Em seguida, passa-se à antropologia, àqueles mundos indígenas que nunca precisaram se dotar nem de uma Natureza, nem de uma Cultura. O tom muda, porque mudam os mundos. Finalmente, é preciso passar à política. É com ela e por ela que o livro conclui, evocando a mobilização febril de todos os coletivos que sabem que já não têm mais o tempo a seu favor. E assim tudo recomeça — ou tudo recomeçará, deixando para trás muito daquilo em que nos habituáramos a acreditar. Este livro deve ser lido como se toma uma ducha gelada. Para nos acostumarmos. Para nos prepararmos. Esperando o pior”.
Bruno Latour, no livro Políticas da natureza – Como fazer ciência na democracia, pergunta: “Que fazer da ecologia política? Nada. Que fazer?”. Fazer uma ecologia política. Porém, o antropólogo propõe um novo estatuto para as políticas da natureza. A obra embatse com a necessidades da discussão pública dos problemas ecológicos, tendo, como intermédio, as ciências.
A ideia de Natureza enquanto exterioridade foi criada pela ciência ilustrada dos séculos XVII e XVIII e determinou uma compreensão dos fenômenos naturais como um sistema de leis. Porém, diz o autor, “a natureza (toda a história das ciências, das mentalidades e toda a antropologia nos mostra isso) é um modo histórico de pensarmos as nossas relações com os objetos e relações políticas entre nós”.
Em entrevista concedida à revista Cult, o antropólogo diz: “A partir do momento que as duas grandes ‘coletividades’ da tradição modernista, a sociedade e a natureza, foram diluídas, quero dizer, redistribuídas e divididas por causa das crises práticas da ecologia, a noção de reunião ou reconstituição desses coletivos — sejam eles humanos ou não humanos — tornou-se a questão política mais importante. A separação entre esses dois conjuntos era, antes também, uma questão política. A ecologia não modificou isto, ela continua definindo os campos da sociedade e da natureza, salvo pelo fato que a isso, ela adicionou a ideia que os americanos chamam de bioprocess, uma forma legítima de inventar a questão da ecologia política. De fato, o importante agora — depois de abandonar as duas coletividades a que me referi — de um lado, a natureza, de outro, a sociedade — é se interessar na questão da produção das instituições que permitem pesquisar essas associações. Essa é a grande questão da ecologia política que encontramos agora por todos os lados: o caso dos parques naturais, do aquecimento global, dos problemas das cidades. Essa é a própria visão do global. Isso é preciso construir agora, mesmo que não sejamos mais ‘ecologistas’ no sentido tradicional, pois os ecologistas estão divididos sobre estas questões, já que eles são também naturalistas. É o que descrevo como a necessidade atual da entrada da ecologia na política”.
Na mesma entrevista, Latour comenta seu questionamento sobre a noção de “natureza” em relação à cultura e à “sociedade”. Para ele, todas as propostas de relação entre os dois termos são por demais rígidas em certo nível de abstração: “Essa divisão entre natureza e cultura é uma forma de se fazer política, de reunir as coisas em duas coletividades, por razões que vêm da modernidade. Tudo o que eu faço nos estudos da ciência (science studies) é mostrar que esse agrupamento de seres a que chamamos natureza, esse amálgama de seres independentes, é uma coletividade mal constituída. O conceito de “natureza” não tem sentido, pois não há de fato a natureza. Hoje, temos a prova com os trabalhos de Descola e outros. Mas o que me interessa na sociologia (o que é diferente do que faz Descola) é a outra coletividade: a sociedade. Nós podemos mostrar que a sociedade é mal constituída, desorganizada, imprópria. Como agora dissolvemos essa dicotomia entre a natureza e a sociedade, nos restam coisas interessantes a fazer, como investigar suas associações, suas conexões e suas políticas de agrupamento: isso é o que me interessa”.
Em Políticas da natureza, Latour aponta que a proposta de relação entre natureza e sociedade não contempla a “totalidade na qual a natureza não social e a natureza humana se encontrariam”. Segundo Isabelle Stengers, em Cosmopolitiques, Latour propõe um coletivo “cosmopolítico” derivado do sentido metafísico de política do cosmo. Diz ela: “jamais desde as primeiras discussões dos Gregos sobre a excelência da vida pública, se falou de política sem falar de natureza; ou, além disso, jamais se fez apelo à natureza, senão para dar uma lição de política”.
.nota. Como a edição brasileira do livro [Educs, 2004, tradução de Carlos Aurélio Mota de Souza] encontra-se esgotada e disponível somente em sebos [e, portanto, infelizmente, tem um preço abusivo], indicamos aqui também a edição original em francês, Politiques de la nature [Éd. La Découverte, 1999], sensivelmente mais barata apesar da importação.
O economista, soicólogo e antropólogo Serge Latouche, em Pequeno tratado do decrescimento sereno, afirma: “O conceito de decrescimento tem duas fontes: uma antropológica, que é a crítica antiga da economia, da modernidade e da base original do homo economicus e que teve sua glória nos anos 1970. A mensagem de Ivan Illich, de quem me considero discípulo, é a de que viveríamos melhor de outra maneira. Dito de outra forma, é desejável sair deste sistema que nos leva à catástrofe”. O segundo momento da teoria do decrescimento, diz Latouche, está “ligado, principalmente, à ecologia e ao relatório do Clube de Roma, é o da sua imperatividade por razões físicas. Devemos então unir o desejo e a necessidade. Podemos viver muito bem de outra maneira.”
A sociedade sofre com a exclusão, a pobreza, a desigualdade, a devastação ambiental e o aquecimento global e os fenômenos climáticos causados por ela. É necessário repensar o estilo de vida dominante e a construção de políticas públicas mais democráticas e participativas. O autor procura mostrar as possibilidades objetivas de sua aplicação, desenvolvendo uma proposta concreta de como entrar num “circulo virtuoso” de decrescimento sereno, representado por oito mudanças interdependentes que se reforçam mutuamente: reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar, reciclar. O primeiro passo para isso, diz, deve ser a invenção da democracia ecológica local, não alheia. Concomitantemente, é preciso também recuperar a autonomia econômica local, o que implica em autossuficiência alimentar, econômica e financeira, para, enfim, impulsionar iniciativas locais decrescentes, hoje já implementadas em coletividades locais ao redor do mundo.
Segundo Latouche, “o consumo diminuirá em substância, enquanto seu valor continuará aumentando”. Em entrevista concedida a Patricia Fachin para o Instituto Humanitas Unisinos [traduzida por Benno Dischingerao], o autor disse: “[…] o decrescimento escolhido não é o decrescimento sofrido. O projeto de uma sociedade de decrescimento é radicalmente diferente do crescimento negativo, aquele que agora já conhecemos. O primeiro é comparável a uma cura de austeridade empreendida voluntariamente para melhorar o próprio bem-estar, quando o hiperconsumo vem nos ameaçar pela obesidade. O segundo é a dieta forçada, podendo levar à morte pela fome. Nós o dissemos e repetimos bastantes vezes. Não há nada pior do que uma sociedade de crescimento sem crescimento. Sabe-se que a simples desaceleração do crescimento mergulha nossas sociedades no descontrole, em razão do desemprego, do aumento do abismo que separa ricos e pobres, dos atentados ao poder de compra dos mais desprovidos e do abandono dos programas sociais, sanitários, educacionais, culturais e ambientais que asseguram um mínimo de qualidade de vida. Pode-se imaginar que enorme catástrofe pode originar uma taxa de crescimento negativo. Esta regressão social e civilizatória é precisamente o que nos espreita, se não mudarmos de trajetória”.
Latouche afirma ser impossível conciliar crescimento econômico e sustentabilidade: “É preciso renunciar ao crescimento enquanto paradigma ou religião”; para ele, o PIB não pode mais crescer, e a “única possibilidade para escapar ao pauperismo” é “retornar aos elementos fundamentais do socialismo”. A idolatria do mercado, diz, “nos levará a um desastre”.
Anthony Giddens, em A política da mudança climática, pergunta: sabemos que devemos agir rápido, pois as mudanças climáticas em curso serão catastróficas para o planeta; por que então não o fazemos?
Ele analisa o tema, mostrando que a mudança climática é, sobretudo, questão política, atrelada ao contexto econômico e geopolítico mundial. Sua análise perpassa os fatos científicos sobre o aquecimento global, avalia avanços e obstáculos na política do clima, comenta sobre a articulação do “movimento verde”, do papel do Estado, das negociações internacionais e dos mercados de carbono – com o que mostra que a atual tentativa de cooperação internacional pode tornar-se mera competição por recursos naturais e vantagens econômicas. Giddens examina, nesse sentido, as ligações entre mudança climática e segurança energética. O sociólogo, assim, aponta o tema como, sobretudo, questão política e defende que toda decisão deve observar o contexto econômico e geopolítico mundial.
O livro resgata e aprofunda pontos levantados no livro As consequências da modernidade, buscando ampliar os conhecimentos sobre risco ecológico, enfatizando o atual fenômeno da mudança climática e suas diversas implicações na sociedade.
De acordo com o doutor em sociologia Leandro Raizer, em resenha do livro, não se trata apenas de ” um desdobramento natural da aplicação da teoria da modernização reflexiva de Giddens sobre o fenômeno da mudança climática, mas o resultado de seu envolvimento no Centre for the Study of Global Governance, na London School of Economics, no qual ele tem atuado como consultor nessa área para o Governo do Reino Unido. Em suas próprias palavras, o livro trata de pesadelos, catástrofes, sonhos e veículos 4×4, e de como nossa rotina cotidiana e individual afeta a continuidade e a qualidade de nossa existência coletiva, sem que muitos de nós percebam. Para Giddens, na concepção da maioria das pessoas, existe um abismo entre as preocupações e rotinas familiares/cotidianas, e seu impacto num abstrato e sombrio futuro de caos climático para o qual diversos estudos apontam. Mesmo com o conhecimento já existente sobre as consequências da mudança climática, individuais e coletivas, a humanidade como coletividade está apenas começando a tomar as medidas necessárias para responder de forma adequada às novas demandas em termos do desenvolvimento de novos hábitos, políticas e práticas”.
Para Giddens, o estado nacional continua a ser o ator principal na elaboração das políticas de mudança climática atualmente desenvolvidas. Leandro Raizer, na resenha citada, sintetiza: “Para Giddens, o desenvolvimento das políticas da mudança climática, que compreendem desde planos ambientais até o investimento em fontes renováveis, implica a presença de ideias-chave. A primeira delas, ensuring state, diz respeito ao papel do estado no processo como um facilitador, ou seja, ajudar e estimular a diversidade de grupos sociais que conduzirão as políticas, e de dar suporte a ela; já a ideia de political convergence trata do quão importante é o apoio político e a legitimidade alcançados por essas ações e da importância dessas políticas para o seu rápido avanço, ao passo que a ideia de economic convergence dá conta do quão rápido as inovações tecnológicas são desenvolvidas para combater o aquecimento global. Outra ideia importante proposta por Giddens diz respeito à de development imperative, segundo a qual os países menos desenvolvidos, por terem contribuído pouco com o aquecimento global, têm o direito, ainda que de forma limitada, de se desenvolver mesmo que fazendo uso de processos que impliquem emissões de carbono mais elevadas”.
A crítica ecológico-política trata de uma discussão sobre a as reflexões que a modernidade tornou, historicamente, prementes; ou, de uma “Modernização reflexiva“, em alusão ao título homônimo do livro, que reúne ensaios de Anthony Giddens, Ulrich Beck e Scott Lash [publicado no Brasil pela editora Unesp em 2010, com tradução de Magda Lopes], e que desenvolve a ideia de que o “ambiente” já não se separa da vida social humana, mas é penetrado e reordenado por ela de modo completo, uma vez que, hoje, tanto a esfera social quanto a natural são influenciadas, integralmente, pelo conhecimento humano reflexivo.
Um importante ponto de apoio para a reflexão nos é dado pela geografia humana; Milton Santos, por exemplo, em A natureza do espaço [Edusp, 2002], mostra que o espaço tornou-se um “conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações”. No livro em questão, o geógrafo questiona noções de centro e periferia ressaltando a força do lugar de acordo com a sua dimensão humana; baseado nas noções de técnica e de tempo, ele investiga a dinâmica do espaço geográfico do homem com a globalização. No conceito de espaço, Milton Santos revela a noção de paisagem, cuja forma dá-se pela relação entre objetos naturais e objetos fabricados pelo homem. Santos aponta que espaço e paisagem não são conceitos dicotômicos: os processos de mudança social, econômica e política da sociedade são resultados da transformação do espaço, no qual a paisagem, a cada período histórico, altera-se e se adapta para atender aos novos paradigmas do modo de produção social.
O lugar é a “dimensão espacial do cotidiano” e, portanto, é possível pensar a fundação de uma nova ética na organização do espaço geográfico do homem, menos calcada nas necessidades hegemônicas das grandes empresas e mais voltada à dignidade das populações atualmente periféricas e à preservação ecológica inerente a um modo de vida mais sustentável.
 Send to Kindle
Send to Kindle