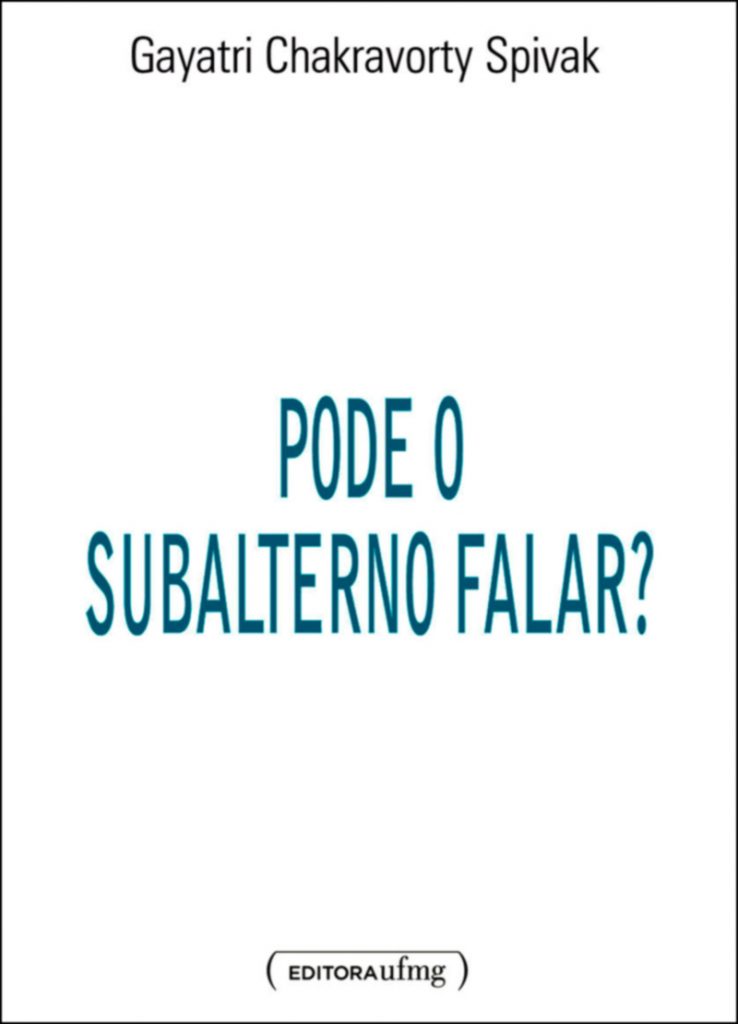“Mulher em armadura”, Odilon Redon, 1891 [The Metropolitan Museum of Art]
Um de seus ensaios mais conhecidos é Pode o subalterno falar? [Can the subaltern speak?], publicado originalmente em 1985. Texto filosófica e antropologicamente denso, parte de uma crítica aos intelectuais ocidentais para refletir sobre a prática discursiva do intelectual pós-colonial e sobre a possibilidade de agenciamento do sujeito subalterno. Spivak critica particularmente Deleuze e Foucault – tomando como base seu diálogo em “Os intelectuais e o poder: conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze” [publicado em Microfísica do poder] –, para apontar a condição etnocêntrica intrínseca à intelectualidade ocidental quando se trata de sua relação com a projeção da alteridade, por um lado, e, por outro – decorrente –, sobre a própria falta de espaço para falar – não a falta de uma voz propriamente dita –, ocupável pelo subalterno. Sobretudo pela mulher subalterna, que é duplamente calada: “Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade”, afirma a autora.
O Outro como sujeito é inacessível para o intelectual ocidental, que, em seu diagnóstico epistemológico, projeta seu próprio etnocentrismo ao projetar a alteridade, criando uma performance política da substituição. Para Foucault e Deleuze, os oprimidos, uma vez que tiverem a oportunidade e por meio da solidariedade de uma política de alianças, poderão falar e conhecer sua condições; no entanto, Spivak lhes questiona: “Devemos agora confrontar a seguinte questão: no outro lado da divisão internacional do trabalho do capital socializado, dentro e fora do circuito da violência epistêmica da lei e da educação imperialistas, complementando um texto anterior, pode o subalterno falar?”. Foucault e Deleuze transformam os subalternos em objetos. A suposição intelectual europeia sobre a capacidade de ação e fala do subalterno omite contradições inerentes à introdução da ampla divisão internacional do trabalho operada pelo sistema capitalista, além de ignorar a teoria ideológica freática à questão. Com que “voz-consciência” poderia, o próprio sujeito subalterno, falar? Considerando que o ensaio enfoca o subalterno não como sujeito marginalizado mas como proletariado inserido no capitalismo global, “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante”, como poderia agenciar sua fala? Como poderia articular poder, desejo e interesse? A violência epistêmica acaba por ser perpetuada pelo intelectualismo que julga poder falar em nome do subalterno e que funciona como cúmplice do imperialismo, reproduzindo as estruturas de poder e de opressão. “Dizer que o sujeito é um texto não autoriza a proposição inversa: o texto verbal é um sujeito”.
A relação entre a exploração econômica do capitalismo global e a dominação geopolítica das alianças dos Estados-nação é macrológica. Para compreender “a textura micrológica do poder”, os agenciamentos coletivos e a constituição do sujeito micrológico que opera interesses, é necessário problematizar a teoria da ideologia sem negligenciar, como o fazem Deleuze e Foucault, o que ela resguarda de ambivalência na palavra “representação”. A ideologia parte de signos e o sujeito soberano do conhecimento camufla a Europa como Sujeito – cuja história é narrada pela lei, pela economia política e pela ideologia do Ocidente – e concebe um sujeito subalterno “homogêneo e monolítico”. Criada pela escrita eurocêntrica, tal concepção ignora o significante da representação, desconsidera que, enquanto categoria, comporta, na língua alemã, dois sentidos diversos: Darstellug, no sentido artístico de representar algo, e Vertretung, que diz respeito à representação em nome de alguém, como seu representante: “distinção entre uma procuração e um retrato”, sintetiza a autora. Referindo-se à fala do subalterno e do colonizado que, desinvestidos de qualquer forma de agenciamento, são sistematicamente mediados por outro, que crê os “re-presentar”, Spivak aponta que o intelectual acaba, ao contrário, por “falar por” eles, amalgamando os dois diversos sentidos da representação. Para a autora, as teorias da ideologia, “de formações de sujeito, que, micrológica e, muitas vezes, erraticamente, operam os interesses que solidificam as macrologias, […] não podem deixar de considerar os dois sentidos da categoria da representação. Devem observar como a encenação do mundo em representação – sua cena da escrita, sua Darstellung – dissimula a escolha e a necessidade de ‘heróis’, procuradores paternos e agentes de poder – Vertretung”.
Conforme pontua em resenha Bruno Sciberras de Carvalho, professor adjunto de Ciência Política da UFRJ e coordenador do Núcleo de Estudos em Teoria Política, Marx, em O 18 de brumário de Luís Bonaparte, analisa que “os pequenos proprietários camponeses não podiam se representar, devendo ser representados. É a diferença entre as duas concepções de representação, assim como suas conexões complexas, que Spivak, seguindo Marx, quer chamar atenção, algo que revela as dificuldades de agenciamento individual e coletivo, assim como – dada a dificuldade de se apropriar efetivamente das condições materiais de existência – a descontinuidade entre a dimensão da consciência e sua transformação. Entender como opera o poder, portanto, deve levar em conta a dimensão ideológica, ou o que a autora denomina ‘textura micrológica’, que forma os sujeitos e solidifica os âmbitos macrológicos do capitalismo global e do Estado-nação”.
Derrida e Marx, segundo a autora, radicalizam a descentralização do sujeito e a consequente dificuldade de agenciamento, individual ou coletivo. Para Marx, “na medida em que milhões de famílias vivem sob condições econômicas de existência que distinguem seu modo de vida […] elas formam uma classe. Na medida em que […] a identidade de seus interesses não consegue produzir um sentimento de comunidade […] elas não formam uma classe”. Spivak aponta que Marx não cria um sujeito indivisível, no qual desejo e interesse seriam coincidentes, mas “discute o princípio estrutural de um sujeito de classe disperso e deslocado: a consciência – coletiva ausente – de classe de um pequeno proprietário camponês encontra seu ‘portador’ em um ‘representante’ que parece trabalhar no interesse de um outro”. Trata-se, em Marx, da base da discussão sobre a consciência de classe. Como analisa Carvalho, na resenha supracitada, “a ausência de consciência coletiva dos camponeses franceses – que, por um lado, formam uma classe por compartilharem condições econômicas similares, mas que, por outro, não a formam por não terem um sentimento de comunidade – encontra uma espécie de portador ou ‘representante’ que parece trabalhar para outros interesses, o que configura uma situação de descontinuidade entre os pequenos camponeses, o ‘representante’ e o fenômeno histórico-político”. Foucault e Deleuze, ao contrário, não admitem a ideia de contradição constitutiva, tampouco consideram as dimensões ideológicas e, segundo Spivak, “em nome do desejo, eles introduzem novamente o sujeito indivisível no discurso do poder”. A exclusão da necessidade da difícil tarefa de realizar uma produção ideológica contra-hegemônica auxilia o empirismo positivista por meio da experiência do intelectual, cujo diagnóstico da episteme não questiona o sujeito soberano que o pronuncia.
A autora indiana, no ensaio, dialoga sobretudo com o Grupo de Estudos Subalternos, notório por repensar a historiografia colonial da Índia “a partir da perspectiva da cadeia descontínua de insurgências de camponeses durante a ocupação colonial”. Ranajit Guha, um dos principais intelectuais do grupo, conforme aponta Spivak, “constrói uma definição do povo […] que pode ser somente uma ‘identidade na diferença’. Ele propõe uma rede de estratificação dinâmica que descreve a produção social colonial como um todo”. Conforme aponta Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, em resenha, Ranajit Guha concebe o subalterno “por definição, um não registrado ou registrável, incapaz de agir como um agente histórico da ação hegemônica, ou seja, de estar presente nas dicotomias estruturais e na constituição dos heróis do drama nacional, na escrita, na literatura, na educação, nas instituições, na administração da lei e na autoridade, uma vez que tais produções estão atravessadas pelo olhar de formação do Estado”. Para Spivak, o Grupo de Estudos Subalternos não pode deixar de perguntar-se sobre a impossibilidade do agenciamento histórico do subalterno. Para tanto, ela une a teoria marxista à teoria da desconstrução de Derrida, para criticar a formulação de um Outro genérico e pouco dialético. A questão “pode o subalterno, como tal, de fato, falar?” desenvolve-se fornecendo, como contrapartida à ênfase de Gramsci na autonomia do sujeito subalterno como premissa essencialista, uma teoria sobre um sujeito subalterno sem categoria, porque é, irredutivelmente, heterogêneo.
Com que consciência de classe pode uma categoria heterogênea falar? A desconstrução, no sentido gramatológico de Derrida, enquanto tarefa do sujeito do conhecimento do Primeiro Mundo, opera uma crítica das construções ideológicas: “o pensamento é […] a parte em branco do texto”.
O ensaio sobretudo reivindica que o intelectual pós-colonial crie espaços que sejam meios pelos quais o subalterno possa falar e para que seja ouvido enquanto fala. Pois, como diz Althusser, a respeito da reprodução ideológica das relações sociais: “A reprodução da força de trabalho requer não apenas uma reprodução de suas habilidades, mas também e ao mesmo tempo, uma reprodução de sua submissão à ideologia dominante por parte dos trabalhadores, e uma reprodução da habilidade de manipular a ideologia dominante corretamente por parte dos agentes de exploração e repressão, de modo que eles também venham a prover a preponderância da classe dominante ‘nas e por meio das palavras’ [par la parole]”.
Para dar conta de um sujeito que é, necessariamente heterogêneo, Spivak opera por meio de um exemplo, alegorizante pelo caráter paradoxal em que encerra a compreensão sobre o Outro: a violência epistêmica inglesa durante a colonização indiana. Dentre as alterações operadas pelos ingleses na legislação hindu, o ritual das sati, viúvas que imolavam a si mesmas sobre as piras funerárias de seus maridos, foi criminalizado. Todo um espaço filosófico envolve a questão, que, no entanto, não abriga a própria mulher que imola a si mesma. A criminalização do ritual, à época comum em toda a Índia, desfaz as fronteiras entre o público e privado e explicita a conversão da presença britânica mercantil e comercial em presença territorial e administrativa; a outorga é formulada por Spivak a partir da seguinte sentença: “homens brancos estão salvando mulheres negras de homens negros”. Há uma origem arcaica da tradição indiana que justifica a categoria das sati, motivada pelas filosofias do Dharmasastra (as escrituras sagradas de suporte) e do Rg-Veda (a doutrina do louvor); além disso, a prática estendeu-se também por questões econômicas, uma vez que a herança de terras, em diversos lugares da Índia, era exclusividade da viúva; a normalização nostálgica indiana repetia que “as mulheres queriam morrer”. Esmagada entre essas duas sentenças – “homens brancos estão salvando mulheres negras de homens negros” e “as mulheres queriam morrer” –, a mulher subalterna colonizada encerra em si a história da repressão. À parte a complexa crítica ao suicídio das viúvas enquanto prática tradicional, Spivak mostra que o imperialismo como estabelecedor da boa sociedade restringe a mulher como objeto de proteção; “como se deveria examinar a dissimulação da estratégia patriarcal, que aparentemente concede a livre escolha como sujeito?”, pergunta a autora. O paradoxo da livre escolha entra em jogo. “A questão mais abrangente da constituição do sujeito sexuado permanece encoberta pela ênfase na violência visível da sati. A tarefa de recuperar um sujeito (sexualmente) subalterno se perde em uma textualidade institucional de origem arcaica”. A constituição do sujeito feminino em vida, assim, mostra-se como o lugar daquilo que Lyotard chamou de “différend”, um espaço de inacessibilidade, intraduzibilidade, de dois modos de discurso em disputa. “Entre o patriarcado e o imperialismo a constituição do sujeito e a formação do objeto, a figura da mulher desaparece, não em um vazio imaculado, mas em um violento arremesso que é a figuração deslocada da ‘mulher de Terceiro Mundo’, encurralada entre a tradição e a modernização. […] O caso [das viúvas sati] como exemplo da mulher no imperialismo desafiaria e desconstruiria essa oposição entre sujeito (lei) e objeto de conhecimento (repressão) e marcaria o lugar do ‘desaparecimento’ com algo que fosse diferente do silêncio e da inexistência – uma violenta aporia entre o status de sujeito e objeto”. No contexto do “itinerário obliterado do sujeito subalterno”, diz Spivak, o caminho da diferença sexual é duplamente obliterado, uma vez que a própria “construção ideológica de gênero mantém a dominação masculina”.
Desinvestido, portanto, de qualquer forma de agenciamento, enquanto sujeito necessariamente heterogêneo, o subalterno – e especialmente a subalterna –, não pode, de fato, falar. Sobretudo por não ser ouvido, não pode se auto-representar. Spivak termina seu texto com um caso de uma jovem ativista indiana, engajada na luta armada pela independência da Índia, que cria um lugar de fala no próprio corpo com seu suicídio. Incapaz de realizar um assassinato político a ela incumbido e, no entanto, “consciente da necessidade prática de confiança”, enforcou-se. Sabendo que o suicídio seria creditado a uma paixão ilegítima e gravidez indesejada, esperou o início de sua menstruação – sabendo da leitura patriarcal que certamente sofreria seu ato – e realizou em si mesma um gesto do deslocamento, criando “uma inversão da interdição contra o direito de uma viúva menstruada de se imolar”. No entanto, ainda assim seu gesto passou desapercebido em sua dimensão política, creditado de qualquer maneira a um possível amor ilícito; o gesto não reconhecido não é ouvido, tampouco lembrado. “O subalterno como um sujeito feminino não pode ser ouvido ou lido”.
O ensaio de fôlego e erudição da autora indiana – publicado no Brasil em 2010 pela Editora da UFMG, com tradução de Sandra Regina Goulart Almeida – tem uma brutal relevância no atual momento político brasileiro, outro contexto pós-colonial, em que a ameaça de ditadura militar nos esmurra novamente a porta, clamada como “representante”. Sobretudo pelo silenciamento que esta outra violência – também epistêmica, mas porque física, a extremista – estabelece, rachando qualquer expectativa de agenciamento de fala enquanto subalternidade: quer como país – uma vez que a divisão internacional do trabalho contemporâneo, como aponta Spivak, é um deslocamento do campo dividido do imperialismo territorial do século XIX, com o estabelecimento da terceirização internacional e subalternização dos países de Terceiro Mundo –, quer a partir das classes subalternas dentro do país, a quem a voz vai sendo mutilada a cada direito restrito, a cada aumento da precarização de sua vida, com cada vez menos condições para conhecer ou falar o texto de sua própria exploração.
A questão, neste caso brasileiro, extrapola a subalternidade enquanto proletariado. Atinge o indivíduo e anula sua agência em seu âmago desejante subjetivo. Como disse Eliane Brum, no artigo “Como resistir em tempos brutos”: “Jamais se esqueçam que a primeira vitória da opressão é sobre a subjetividade. É o que faz uma mulher cotidianamente espancada ficar calada. Ou uma mulher estuprada não denunciar o estuprador. Há algo que a amarra por dentro. É como se perdesse a voz mesmo tendo voz, perdesse a força mesmo tendo força. Esse é o efeito de ser violentada ou violentado”.
Será possível chegar ao ponto de assistir à própria violência representando a si mesma, agenciada por símbolos esvaziados que somente têm força por serem incrustados a uma figura “heroica”? A busca pela figura paterna representativa, conforme Marx expõe em O 18 de brumário de Luís Bonaparte, ecoa hoje o que disse Marcuse em prefácio à obra marxista: “Como se chegou a essa situação em que a sociedade burguesa só pode ainda ser salva pela dominação autoritária, pelo exército, pela liquidação e traição das suas promessas e instituições liberais? […] Isso é cômico, mas a própria comédia já é a tragédia, na qual tudo é jogado fora e sacrificado. Tudo ainda é século XIX: passado liberal, pré-liberal”.
No sentido da representação como Vertretung, Marx demonstra um sujeito social cuja consciência é deslocada e incoerente e, em rígida observância da Lei do Pai (o Código Napoleônico), analisa a substituição da representação, dos pequenos proprietários que, não podendo representar a si mesmos, buscaram ser representados; conforme citado por Spivak: “A influência política [no lugar do interesse de classe, já que não há um sujeito de classe unificado] dos pequenos proprietários camponeses encontra, então, sua última expressão [a consequência de uma cadeia de substituições – Vertretungen – é forte aqui] no poder executivo [Exekutivgewalt – menos pessoal em alemão] que subordina a sociedade a si mesma”. Trata-se, segundo a autora, de um “modelo de dissimulação social – isto é, as lacunas necessárias entre a fonte da ‘influência’ (neste caso, os pequenos proprietários camponeses), o ‘representante’ (Luís Napoleão) e o fenômeno histórico-político (o controle executivo) – implica não apenas uma crítica ao sujeito como um agente individual, mas também uma crítica à subjetividade de um agenciamento coletivo. A máquina da história necessariamente deslocada se movimenta porque a ‘identidade dos interesses’ desses proprietários ‘não consegue produzir um sentimento de comunidade, de ligações nacionais ou de organização política’. O caso da representação como Vertretung (na configuração da ‘retórica como tropo’) ocupando seu lugar no espaço entre a formação de uma classe (descritiva) e a não formação de uma classe (transformadora)”.
O representante a quem nossa sociedade burguesa agora dá sua voz, cômico exemplo icônico da “auto-verdade”, conforme dito por Brum no artigo supracitado, nos ecoa a pergunta: podemos, nós, subalternos, compreender a descontinuidade dos dois termos da “representação”?
__________
“São mudos aqueles que agem e lutam, em oposição àqueles que agem e falam? Esses problemas imensos estão encravados nas diferenças entre as ‘mesmas’ palavras: consciousness [condição de estar ciente de algo] e conscience [relativo a questões éticas e morais] em inglês, representação e ‘re-presentação’ [em português, ambas são traduzidas como ‘consciência’]”.
PODE O SUBALTERNO FALAR?
Autor: Gayatri Spivak
Editora: UFMG
Preço: R$ 25,20 (133 págs.)
 Send to Kindle
Send to Kindle