Uma reflexão sobre Andar por aí, de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso

Tânia Gomes Mendonça
Ao abrirmos o livro Andar por aí, de Isabel Minhós Martins e ilustrações de Madalena Matoso, nos deparamos com um enorme pássaro amarelo, cuja asa é um parque com um gramado verde e um banco vermelho. O seu corpo possui tracejados que revelam prédios, ruas, carros, casas, um rio e um mercado. O pássaro é, afinal, um mapa. Uma ave que, talvez, quem sabe, possa alçar vôo durante a nossa leitura…
Gosto de andar por aí.
Desço as escadas a correr, salto os degraus dois a dois
e num instante entro na rua.
Na rua não há teto. Sopra o vento.
Às vezes chove, às vezes faz sol.
Na rua não há paredes. Há estradas, muros e lugares,
mas o mundo é enorme (acho que não tem fim).
Assim é o texto da primeira página do livro. Nela, vemos um senhor idoso e um menino, que caminham por entre tracejados com cores chapadas – as mesmas do pássaro, que provavelmente, já se encontra vagando pelo céu do leitor. E a ilustração, com suas marcas de possíveis pegadas e passeios, parece nos convidar a atravessar a experiência deste livro ilustrado.
 Send to Kindle
Send to Kindle
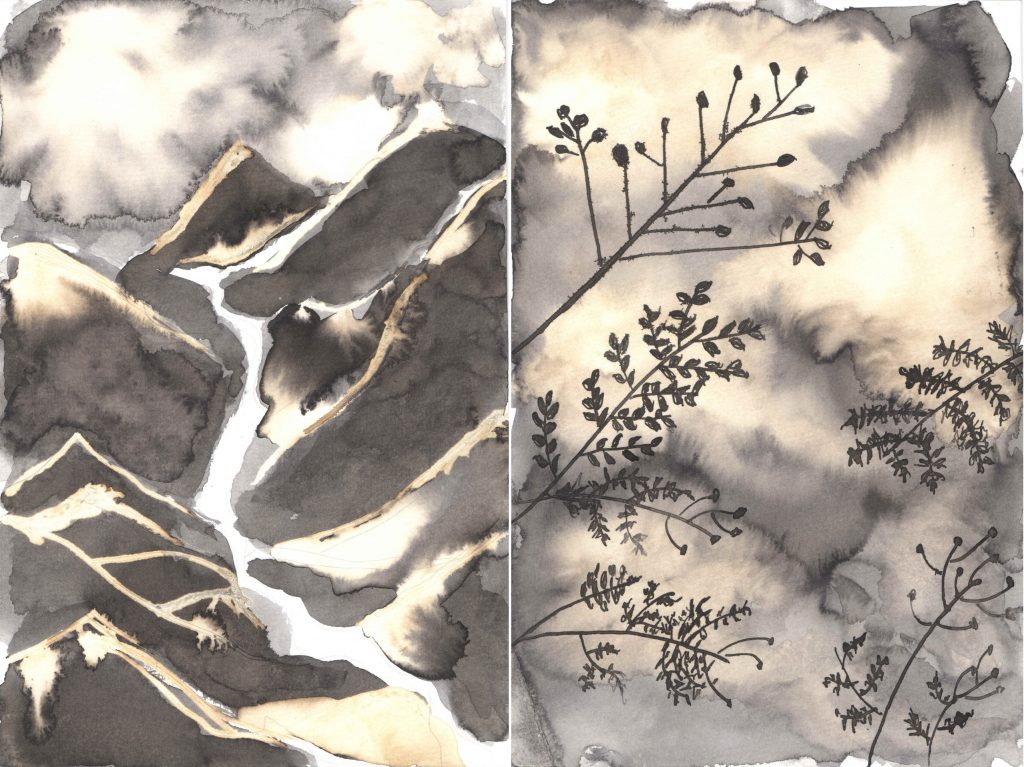




![Araquém Alcântara ["Mais médicos"]](https://obenedito.com.br/wp-content/uploads/2017/08/mais-medicos-araquem-9.png)







