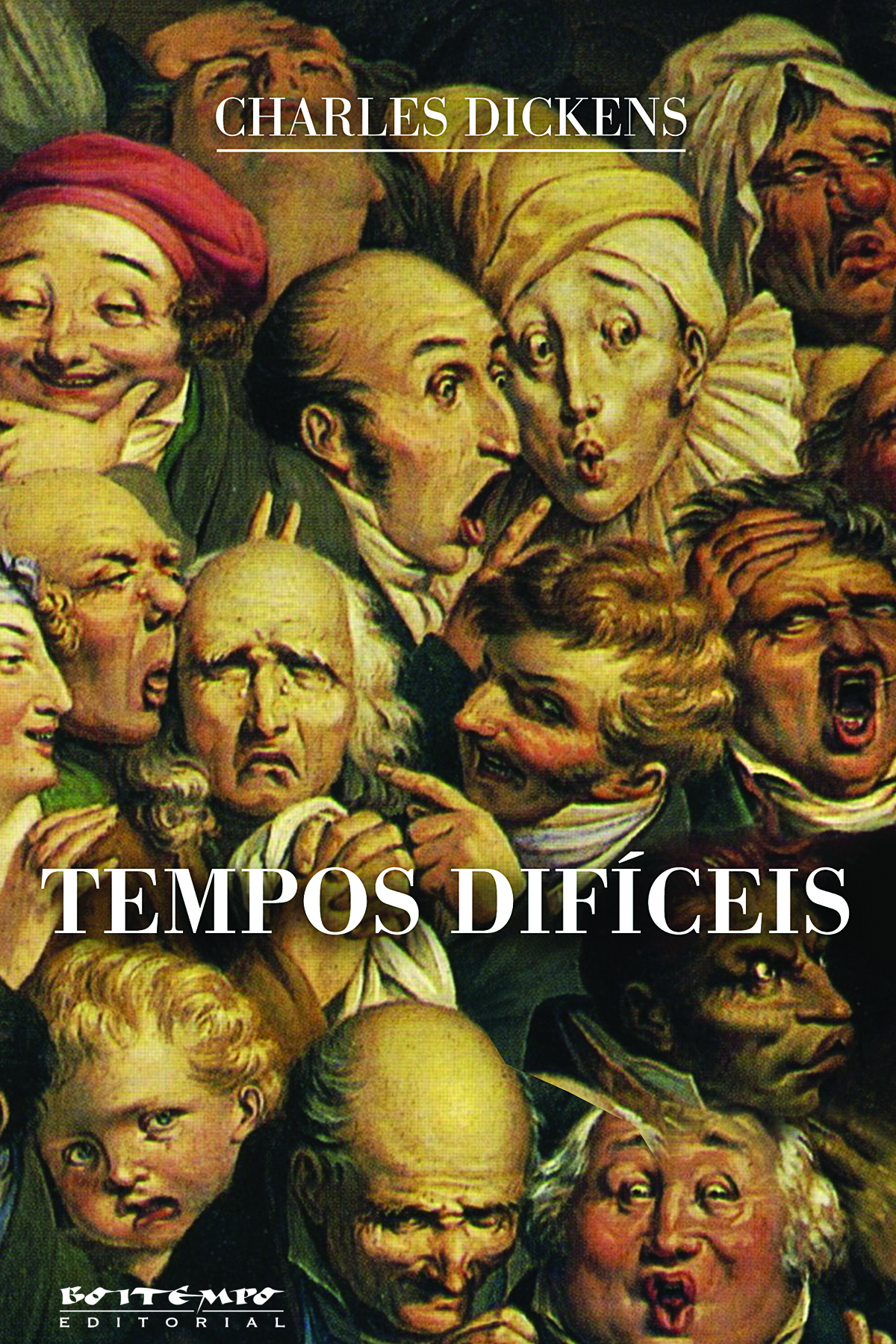Já não vivemos em uma sociedade imunológica: a violência imanente ao sistema é neuronal e, portanto, não desenvolve uma reação de rejeição no corpo social.
“A sociedade do trabalho e a sociedade do desempenho não são sociedades livres. Elas geram novas coerções. A dialética do senhor e escravo está, não em última instância, para aquela sociedade na qual cada um é livre e que seria capaz também de ter tempo livre para o lazer. Leva, ao contrário, a uma sociedade do trabalho, na qual o próprio senhor se transformou num escravo do trabalho. Nessa sociedade coercitiva, cada um carrega consigo seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos ao mesmo tempo prisioneiro e vigia, vítima e agressor. Assim, acabamos explorando a nós mesmos. Com isso, a exploração é possível mesmo sem senhorio”.
O filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, professor universitário de filosofia e estudos culturais na Universidade de Artes em Berlim, Byung-Chul Han, teve o livro Sociedade do cansaço publicado no Brasil em 2015, com tradução de Enio Paulo Gianchini, pela editora Vozes.
Han tem atualizado os temas da filosofia alemã de maneira simples e original: analisando o homem contemporâneo, a subjetividade, as novas formas de dominação, a depressão e as esperanças, seus escritos parecem definir diretamente o que somos, no mundo em que vivemos.
A sociedade do cansaço que Han problamatiza é efeito de uma sociedade do desempenho. “A sociedade de hoje é uma sociedade de academias de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI é uma sociedade de desempenho”. Nela, o discurso motivacional e seus efeitos colaterais estão crescendo desde o início do século XXI e este discurso não mostra sinais de desaquecimento. Religiões tradicionais estão perdendo adeptos para novas igrejas que trocam o discurso do pecado pelo encorajamento e autoajuda. As instituições políticas e empresariais mudaram o sistema de punição, hierarquia e combate ao concorrente pelas positividades do estímulo, eficiência e reconhecimento social pela superação das próprias limitações. Byung-Chul Han mostra que a sociedade disciplinar e repressora do século XX, descrita por Michel Foucault na década de 1970, perde espaço para uma nova forma de organização coercitiva: a violência neuronal. “A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema”. As pessoas cobram-se cada vez mais para apresentarem melhores resultados, tornando-se, elas próprias, vigilantes, e carrascas, de suas ações. A ideologia da positividade é perversa, nos faz submetermos-nos a trabalhar mais e a receber menos.
Uma das principais consequências é um aumento significativo de doenças como depressão, transtornos de personalidade, síndromes como hiperatividade. Na sociedade do desempenho todas as atividades humanas decaem para o nível do trabalho e o homem se torna “hiperativo e hiperneurótico”.
Para a jornalista Eliane Brum, no interessante artigo “Exaustos-e-correndo-e-dopados”, publicado em sua coluna na versão brasileira do jornal espanhol El País em julho deste ano: “Quando tudo é urgência nada é urgência. Ao final do dia que não acaba resta a ilusão de ter lutado todas as lutas, intervindo em todos os processos, protestado contra todas as injustiças. Os espasmos esgotam, exaurem, consomem. Mas não movem. Apaziguam, mas não movem. Entorpecem, mas será que movem?”. Como resposta, ela busca o livro de Han e aoponta: “Em nome de palavras falsamente emancipatórias, como empreendedorismo, ou de eufemismos perversos como “flexibilização”, cresce o número de “autônomos”, os tais PJs (Pessoas Jurídicas), livres apenas para se matar de trabalhar. Os autônomos são autômatos, programados para chicotear a si mesmos. E mesmo os empregados se “autonomizam” porque a jornada de trabalho já não acaba. Todos trabalhadores culpados porque não conseguem produzir ainda mais, numa autoimagem partida, na qual supõem que seu desempenho só é limitado porque o corpo é um inconveniente”. Para Brum, “a sociedade do desempenho, para a qual teríamos ‘evoluído’, ao contrário, produz depressivos e fracassados. A sociedade de desempenho, nas palavras de Han, produz infartos psíquicos”.
Han, estudioso da obra de Martin Heidegger, trava, no livro, um diálogo crítico com pensadores como Alain Ehrenberg, Giorgio Agamben, Michel Foucault, Hanna Arendt, Walter Benjamin e Friedrich Nietzsche e foi apontado pelo periódico espanhol El País como o sucessor do filósofo alemão Peter Sloterdijk.
No livro de Byung-Chul Han, como disse Jorge Barcellos, doutor em Educação pela UFRGS, em resenha publicada pelo jornal Le Monde Diplomatique – Brasil, “o exemplo de Melville, Bartleby, o escrevente – Uma história de Wall Street, é a metáfora de Han para mostrar que nosso adoecimento provém da perversidade de nosso trabalho”.
O Bartleby de Hermann Melville – personagem enigmático da ficção moderna que, no dizer de Gilles Deleuze, desafia toda a psicologia e a lógica da razão -, é um escrevente que utiliza uma fórmula de resistência às ordens do advogado que é seu patrão: “Acho melhor não”. A tal ponto recusa-se, que enfim recusa o próprio trabalho de escrivão e copista para o qual fora contratado, despertando uma sucessão tragicômica de acontecimentos. A cada resposta evasiva de Bartleby abre-se uma fresta suficiente para que adentre o insólito nas atitudes e sentimentos despertados no dono do escritório, nos colegas de trabalho e até mesmo nas vizinhanças de Wall Street.
O filósofo Giogio Agamben, em seu Bartleby, ou da contingência [Autêntica, 2015] – o volume inclui também o texto de Melville – atribui positividade à fórmula de Bartleby encontrando nela a “potência do não”. O escrevente que deixou de escrever é a imagem máxima do nada que procede qualquer criação mas também é, ao mesmo tempo, a mais implacável reivindicação deste nada como potência pura e absoluta. Como bem analisa Carlos Augusto Peixoto Junior, professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC-Rio, no artigo “Deleuze, Agamben e Bartleby“, a personagem de Melville, para Agamben, “na verdade, teria se transformado na própria folha de papel em branco na qual se escreve. Por isso não seria estranho que ele se demorasse tão obstinadamente no abismo da possibilidade e não parecesse ter a menor intenção de sair dele. Assim ele se contrapõe a toda uma tradição ética que sempre tentou contornar o problema da potência reduzindo-a a termos como vontade e necessidade”. Nas palavras de Agamben: “seu tema dominante não é o que se pode, mas o que se quer ou o que se deve”. Para o filósofo, como pontua Peixoto Júnior, “a potência não é idêntica à vontade, assim como a impotência não corresponde diretamente a uma necessidade. Acreditar que a vontade tenha algum poder sobre a potência, que a passagem à ação seja resultado de uma decisão que acaba com a ambiguidade da potência (a qual é sempre potência de fazer ou não fazer), seria justamente a grande ilusão de toda moral”.
Um ser que pode ser e, ao mesmo tempo, não ser, afirma Agamben, recebe em filosofia o nome de contingente. O experimento no qual Bartleby se arrisca é na verdade a realização da contingência absoluta. Diz Agamben: “Bartleby questiona o passado desta maneira: ele o reivindica. Não simplesmente para redimir aquilo que se passou, para fazê-lo ser de novo, mas para reconduzi-lo à potência, à indiferente verdade da tautologia. O ‘preferiria não’ é a restitutio in integrum da possibilidade que a mantém a meio caminho entre o acontecer e o não acontecer, entre o poder ser e o não poder ser. Trata-se da lembrança do que não se passou”.
“Devem-se entender os estudos sobre privação de sono no contexto de uma busca por soldados cujas capacidades físicas se aproximarão cada vez mais da eficácia de aparatos e redes não humanos. O complexo científico-militar tem se dedicado à pesquisa de formas de “cognição ampliada” que prometem aprimorar a interação entre homem e máquina. Simultaneamente, as Forças Armadas têm financiado diversas outras áreas de investigação do cérebro, bancando inclusive o desenvolvimento de uma droga contra o medo. Haverá ocasiões em que, por exemplo, drones armados com mísseis não poderão ser empregados e esquadrões da morte de soldados resistentes ao sono e à prova de medo serão necessários para missões de duração indefinida. Como parte desses esforços, o experimento com os pardais-de-coroa-branca – apartados dos ritmos sazonais do meio ambiente da costa do Pacífico – deve auxiliar o projeto de impor ao corpo humano um modelo de máquina eficaz e resistente. A história mostra que inovações relacionadas à guerra são inevitavelmente assimiladas na esfera social mais ampla, e o soldado sem sono seria o precursor do trabalhador ou do consumidor sem sono. Produtos contra o sono, após agressiva campanha de marketing das empresas farmacêuticas, iriam se tornar uma opção de estilo de vida e depois, para muitos, uma necessidade.
Mercados 24/7 (abreviação para 24 horas por dia, 7 dias por semana) e infraestrutura global para o trabalho e o consumo contínuos existem há algum tempo, mas agora é o homem que está sendo usado como cobaia para o perfeito funcionamento da engrenagem”.
24/7 – Capitalismo tardio e o fim do sono, de Jonathan Crary, foi publicado no Brasil publicado pela extinta CosacNaify, com tradução de Joaquim Toledo Jr. Há ainda exemplares desta edição à venda.
De uma ironia cáustica e bem humorada, o livro expõe a complexidade da lógica mercantil para a qual a própria necessidade de repouso humana é um empecilho. Seu diagnóstico agudo identifica um mundo cujo funcionamento e cuja própria lógica não se prendem mais a limites de tempo e espaço. Crary mostra que hoje são financiadas pesquisas científicas que buscam desenvolver uma fórmula para criar o “homem sem sono”, capaz de trabalhar e consumir “24/7”: 24 horas, durante os sete dias da semana. O livro, por outro lado, resgata uma tradição da cultura ocidental que percebe no sono e no sonho possibilidades utópicas.
“O 24/7 mina paulatinamente as distinções entre o dia e anoite, entre claro e escuro, entre ação e repouso. É uma zona de insensibilidade, de amnésia, de tudo que impede a possibilidade de experiência. Parafraseando Maurice Blanchot, é tanto o próprio desastre, caracterizado pelo céu vazio, no qual nãos e vê nenhuma estrela ou sinal, em que qualquer referência se perde e nenhuma orientação é possível. Mais concretamente, é como um estado de emergência, quando um conjunto de refletores é repentinamente aceso no meio da noite, aparentemente como resposta a circunstâncias extremas, mas que continuam acesos, transformados em condição permanente. O planeta é repensado como um local de trabalho ininterrupto ou um shopping Center de escolhas, tarefas, seleções e digressões infinitas, aberto o tempo todo. A insônia é o estado no qual produção, consumo e descarte ocorrem sem pausa, apressando a exaustão da vida e o esgotamento dos recursos”.
Zygmunt Bauman, em seu livro Vida para consumo, cita o alemão Siegfried Krakauer, que na década de 1920, observava a ascensão dos hábitos capitalistas de embelezamento das mulheres, para postergação da própria obsolência, que as faria cair em desuso. Diz Bauman:
“Meio século após Kracauer observar e descrever as novas paixões das mulheres berlinenses, outro notável pensador alemão, Jürgen Habermas, escrevendo à época em que a sociedade de produtores estava chegando ao final de seus dias, e portanto com o benefício da percepção a posteriori, apresentava a “comodificação do capital e do trabalho” como a principal função, a própria raison d’être, do Estado capitalista. Ele apontou que, se a reprodução da sociedade capitalista é obtida mediante encontros transnacionais interminavelmente repetidos entre o capital no papel de comprador e o trabalho no de mercadoria, então o Estado capitalista deve cuidar para que esses encontros ocorram com regularidade e atinjam seus propósitos, ou seja, culminem em transações de compra e venda”.
De acordo com Bauman: “A tarefa da recomodificação do trabalho foi a mais afetada até agora pelos processos gêmeos da desregulamentação e da privatização. Essa tarefa está sendo excluída da responsabilidade governamental direta, mediante a ‘terceirização’, completa ou parcial, do arcabouço institucional essencial à prestação de serviços cruciais para manter vendável a mão-de-obra (como no caso de escolas, habitações, cuidados com os idosos e um número crescente de serviços médicos). Assim, a preocupação de garantir a ‘vendabilidade’ da mão-de-obra em massa é deixada para homens e mulheres como indivíduos (por exemplo: transferindo os custos da aquisição de habilidades profissionais para fundos privados – e pessoais), e estes são agora aconselhados por políticos e persuadidos por publicitários a usarem seus próprios recursos e bom senso para permanecerem no mercado, aumentarem seu valor mercadológico, ou pelo menos não o deixarem cair, e obterem o reconhecimento de potenciais compradores”.
Bauman analisa a peculiaridade mais marcante da vida humana contemporânea: sua “vendabilidade” e transformação em mercadoria: “A característica mais proeminente da sociedade de consumidores – ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta – é a transformação dos consumidores em mercadorias”.
De acordo com o sociólogo Vinicius Aleixo Gerbasi, em resenha, “no quadro de consumidores, devem submeter-se a si mesmos, como mercadoria – seres mostráveis, dispostos nas vitrines (mercados) por toda parte, bem como participantes ativos de condutas sociais adequadas, para estarem sempre na moda e não se tornarem ultrapassados. Portanto, a sociedade de consumidores é a expressão da doutrina neoliberal de autopromoção, ou a figura do individuo que faz a si mesmo – depositando toda a responsabilidade em torno de si. Já os que não se enquadram nesse modelo aparecem como ‘cidadãos falhos’ (2008, p.85). Estes são, por sua vez, colocados no pólo oposto de não consumidores – encontram-se abaixo da linha de pobreza, vistos como sujeitos indecentes eles são estigmatizados por não participarem da cultura”.
No interior desta lógica, a perseguição da felicidade é uma constante, porém inatingível, pois a satisfação só se dá através do consumo e, a própria cultura, torna-se fluxo ininterrupto de insatisfação dos desejos. Diz Bauman: “O valor mais característico da sociedade de consumidores, na verdade seu valor supremo, em relação ao qual todos os outros são instados a justificar seu mérito, é uma vida feliz. A sociedade de consumidores talvez seja a única na história humana a prometer felicidade na vida terrena, aqui agora e a cada ‘agora’ sucessivo. Em suma uma felicidade instantânea e perpétua. Também é a única sociedade que evita justificar e/ou legitimar qualquer espécie de infelicidade […], também na sociedade de consumidores a in felicidade é crime passível de punição, ou no mínimo um desvio pecaminoso que desqualifica seu portador como membro autêntico da sociedade”. Segundo o sociólogo, “a sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar a não satisfação de seus membros (e assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles)”.
“[…] que tudo devesse ser pago. Não se podia, em hipótese alguma, dar nada a ninguém, ou oferecer ajuda gratuita. A gratidão deveria ser abolida, e as virtudes que dela brotavam deveriam deixar de existir. Cada minuto da existência humana, do nascimento até a morte, deveria ser uma barganha diante de um guichê”.
Tempos difíceis, de Charles Dickens, escrito em 1854, é um clássico cuja atualidade permanece vívida. O romance tece uma crítica profunda à sociedade inglesa da Revolução Industrial através da narrativa da vida dos habitantes da cinzenta cidade de Coketown. A miserável condição de vida dos trabalhadores ingleses no final do século XIX, em contraste drástico à riqueza em que vivia a classe mais rica da Inglaterra vitoriana, é, pelo romance, mostrado através de um olhar arguto e irônico. O desenrolar de sua prosa constrói uma crítica aguda à garantia que a educação infantil proporciona à manutenção do quadro de dominação e desigualdade social, por moldar desde cedo a inteligência à obediência, à submissão e subserviência, incontestabilidade e irrecuperável massificação de corpo e espírito.
O protagonista, Thomas Gradgrind, é “um homem de fatos e cálculos”, que renega a fantasia. O livro traça a trajetória dele e se sua família, base satírica da obra para descrever de maneira quase caricatural a sociedade industrial, transformando a própria estrutura do romance em uma profunda argumentação antiliberal.
Gradgrind e sua mulher são personagens tipificados, a um só tempo cômicos e enervantes. Ao longo do romance, Dickens humaniza-os, mostrando-os vítimas da insensibilidade das ideias de seu tempo. Sua filha mais velha, Louisa, ouve, desde a infância, a seguinte recomendação paterna: “Não imagine, Louisa, nunca imagine”. Ela acaba por ser, no romance, a personificação do sofrimento pela falta de vida interior, substituída pela praticidade numérica da preocupação puramente econômica.
Para Michael Löwy e Robert Sayre, no livro Revolta e melancolia: o romantismo na contracorrente da modernidade, o romance de Dickens “não tratam apenas da trituração da alma: o romance ilustra também como a modernidade expulsou da vida material dos indivíduos qualidades como beleza, cor e imaginação, reduzindo-a a uma rotina fastidiosa, cansativa e uniforme. A cidade industrial moderna, ‘Coketown’, é descrita por Dickens como ‘uma cidade de máquinas e chaminés altas, pelas quais se arrastavam perenes e intermináveis serpentes de fumaça que nunca se desenrolavam de todo’. Suas ruas eram semelhantes umas às outras, ‘onde moravam pessoas também semelhantes umas às outras, que saíam e entravam nos mesmos horários, produzindo os mesmos sons nas mesmas calçadas, para fazer o mesmo trabalho, e para quem cada dia era o mesmo de ontem e de amanhã, e cada ano o equivalente do próximo e do anterior’. O espaço e o tempo parecem ter perdido toda diversidade qualitativa e toda variedade cultural, tornando-se uma estrutura única, contínua, moldada pela atividade ininterrupta das máquinas”.
Segundo Terry Eagleton, “Dickens vê sua sociedade apodrecendo, desvelando-se, tão sobrecarregada de substância desprovida de sentido que afunda gradualmente em uma espécie de lodo primitivo”.
Byung-Chul traz em seu livro uma profunda metáfora, utilizando o mito de Prometeu:
“O mito de Prometeu pode ser reinterpretado considerando uma cena de aparelho psíquico do sujeito de consumo contemporâneo, que se violenta a si mesmo, que está em guerra consigo mesmo. Na realidade, o sujeito de ‘rendimiento’ (executivo) que se acredita livre, acha-se acorrentado como Prometeu. A águia que devora seu fígado em constante crescimento é seu Alter Ego com o qual está em guerra. Assim visto, a relação de Prometeu e a águia é uma relação consigo mesmo, uma relação de auto-exploração. A dor do fígado, que em si é indolor, é um cansaço. Dessa maneira, Prometeu, como sujeito de autoexploração, torna-se preso de um cansaço infinito. É uma figura originária da sociedade do cansaço”.
A ideia, levada mais ao pé da letra, nos encaminha também para um romance que amplia a tragicidade da problemática social:
Em O quinze, Raquel de Queirós em dado momento escreve:
“Os meninos choramingavam, pedindo de comer. E Chico Bento pensava: ”Por que, em menino, a inquietação, o calor, o cansaço, sempre aparecem com o nome de fome?”
Em eterna luta com o sol, com a fome, com a natureza, com a pobreza, há ainda as pessoas, grupos, famílias, comunidades que sobram num cansaço, pior ainda, inútil e desvalorizado: desesperados, única chance de tentativa de sobrevivência, apesar de completamente alheios ao mercado e suas regras monetárias, inevitavelmente parte dessa sociedade: os retirantes são a imagem mais triste do cansaço inócuo, desprezado, mas fatal.
 Send to Kindle
Send to Kindle