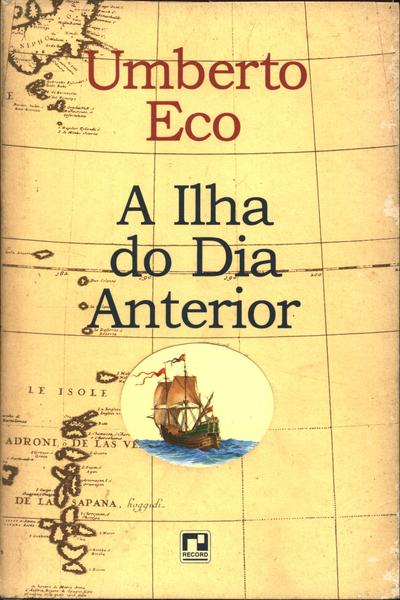O escritor e filósofo italiano Umberto Eco [1932 – 2016] deixou um legado intelectual profícuo e amplo. Foi um dos intelectuais que ajudaram a refazer a figura do intelectual.
Como diz Pepe Escobar, em artigo Umberto Eco era o professor que sabia tudo: “Em 1971, Eco já ensinava ciências semióticas na faculdade de Letras e Filosofia de Bologna. Viu essa ciência experimental – lançada por Roland Barthes – como mais que um método; ela levou-o a experimentar além de todas as intersecções, entre culturas erudita e pop. Bebendo freneticamente da cultura pop, Il Professore teria de acabar na TV, que se pôs a dissecar com milhão de bisturis; disso veio um coquetel tóxico de kitsch, futebol, cultura das celebridades, publicidade, moda – e terrorismo. O embrião desse frenesi crítico já estava ativado em Apocalípticos e Integrados. A atitude apocalíptica da mídia-empresa reflete uma visão elitista e nostálgica de cultura; a atitude integrada privilegia o livre acesso aos produtos culturais, sem se preocupar com o modo como são produzidos. E foi o que levou Eco a propôr uma visão crítica de todos os meios da mídia-empresa, a qual, infelizmente, poucos tiveram coragem de aplicar”.
Um dos livros seminais de Umberto Eco, Apocalípticos e integrados é um verdadeiro marco na interpretação do fenômeno em tela O livro tornou-se referência fundamental na discussão sobre as definições dos dilemas da cultura de massa na era tecnológica.
O título já coloca as duas posturas intelectuais conceitualizadas por Eco e que marcaram as discussões sobre a indústria cultural e a cultura de massa no início da década de 70. Os apocalípticos e os integrados postulam os extremos entre as análises vigentes na referida discussão. Os primeiros, são caracterizados por encarar a cultura de massa como a anticultura, como sintoma de sua decadência da cultura tomada em seu sentido aristocrático, consideram que a massificação provoca a perda da essência da criação artística, de sua “aura”, como dizia Walter Benjamim. Os segundos, compreendem a cultura de massa como um fenômeno do alargamento da área cultural, uma vez que faz com que uma arte e cultura popular possam ser consumidas por quaisquer camadas sociais; uma democratização cultural.
Eco adverte na introdução que é injusto enquadrar as ações humanas como “apocalípticas” ou “integradas”, porém, o faz por identificação a algumas linhas metodológicas. Para ele, apocalípticos seriam aqueles intelectuais que condenam os meios de comunicação de massa, ao passo que, os integrado, aqueles que os absolvem.
A cientista política portugesa Mariana Carmo Duarte, no artigo “Cultura, Pluralidade e Democracia – Artigo baseado em Apocalípticos e Integrados, de Umberto Eco”, contextualiza a filiação teórica da discussão: “O esclarecimento destes dois conceitos serviu para clarificar uma antiga discussão que opunha os teóricos da Escola de Frankfurt, dos anos ’30/’40, aos teóricos da Escola Canadiana, dos anos ’50/’60. Os primeiros, liderados por Adorno e Horkheimer, e inspirados pela doutrina marxista, assemelham-se à categoria dos ‘apocalípticos’, definida por Eco. Para esta escola, a produção massificada e padronizada de bens culturais é não mais do que uma forma de iludir os indivíduos, criando-lhes escapes à vida real. Assim, estes não se preocupam com a realidade social em que vivem, pois estão ‘entretidos’ com a cultura que lhes é dada a consumir, e, ao mesmo tempo, são inibidos de desenvolver um pensamento crítico acerca não só da realidade em que vivem, mas também daquilo que lhes é dado a consumir. Segundo esta abordagem, a cultura de massas é indissociável dos interesses da classe dominante, que a usa em seu proveito. Contra a ideia de manipulação massiva sugerida pela escola de Frankfurt e pela necessidade de se começar a estudar também os efeitos dos meios de comunicação enquanto tecnologia e não apenas os seus efeitos enquanto difusores de mensagens para a transformação das sociedades e civilizações, aparece a Escola Canadiana. Estes, que melhor se enquadram na categoria dos ‘integrados’ e que são encabeçados por McLuhan e Innis, acreditavam que a influência dos meios de comunicação sobre a sociedade e a civilização era globalmente positiva. De acordo com esta escola, os meios de comunicação social oferecem produtos com valor estético e democratizam a Cultura”.
Nas palavras de Eco, o problema é político. Diz ele: “[…] entre o consumidor de poesia de Pound e o consumidor de um romance policial, no plano de direito, não existe nenhuma diferença de classe social ou de nível intelectual. Cada um de nós pode ser um e outro em diversos momentos do seu dia, num caso procurando uma excitação de tipo altamente especializado, noutro uma forma de entretenimento que esteja em condições de lhe veicular uma categoria de valores específica”. Porém, o problema agrava-se no plano de fato, “se for considerado do ponto de vista do consumidor comum […]: pelo que surge o problema de uma acção político-social que permita não só ao habitual fruidor de Pound recorrer ao romance policial, mas também ao habitual fruidor de romance policial dispor de uma fruição cultural mais complexa. O problema, já o dissemos, é antes de mais político (um problema de escolaridade, primeiro, e, depois, de tempo livre […]), mas é facilitado pelo reconhecimento de uma paridade em dignidade dos vários níveis, e por uma ação cultural que parta da assunção desse pressuposto.”
“[…] etimologia tanto de biblos como de liber remete à casca da árvore”.
Eco, além de grande escritor e professor, foi apaixonado bibliófilo. Colecionador de livros raros, amante dos livros, ele faz, com este livro, uma declaração de amor aos livros, através de textos diversos, entre definições, listas de livros e contos fantásticos.
No início de A memória vegetal, Eco dedica-se à sutil diferenciação entre bibliofilia, bibliomania, bibliocastia e bibliotecas. Ele define: bibliófilo é aquele que devota amor ao livro; ele, por exemplo, conta que guardava, até então, e de maneira carinhosa, um exemplar de Philosophie au Moyen Age, de Gilson. O livro havia sido seu companheiro constante durante a redação de sua tese de doutorado. Hoje, o volume, gasto pelo passar dos anos, desmilinguindo-se, era, porém, ligado àqueles anos de sua formação acadêmica e, portanto, parte de suas lembranças e portador de grande valor afetivo.
A explicação do que é a bibliomania parte de um exemplo de bibliômano, de uma pessoa que compra um livro raro e o guarda de maneira ávara, nem o mostra a ninguém. Um bibliófilo, por outro lado, exibiria-o a todos e, mesmo, o poria em exposição enquanto objeto raro. O bibliocasta, por sua vez, trata com displicência seus livros, destrói-os por descuido, ou mesmo vende-os aos pedaços. Ao bibliocasta, os livros parecem adquirir mais valor quando mutilados.
A biblioteca, diz, “não é somente o lugar da sua memória, onde você conserva o que leu, mas o lugar da memória universal, onde um dia, no momento fatal, será possível encontrar aqueles outros que leram antes de você”.
Comentando o conceito que dá título ao livro, Eco diz que a memória, no princípio, era orgânica: memórias de velhos, sabedoria advinda de experiência. “Talvez, antes, eles não tivessem utilidade e fossem descartados, quando já não serviam para encontrar comida. Mas com a linguagem, os velhos se tornaram a memória da espécie: sentavam-se na caverna, ao redor do fogo e contavam o que havia acontecido antes de os jovens nascerem. Antes de começar a cultivar essa memória social, o homem nascia sem experiência, não tinha tempo de fazê-lo e morria. Depois, um jovem de vinte anos era como se tivesse vivido cinco mil”. Quando a escrita foi inventada, surgiu a memória mineral, gravada em argila ou esculpida em pedra. Com o papiro e com o papel, por sua vez, surgiu a memória vegetal. E o livro criou uma memória individual, versão subjetiva das coisas e do mundo, ao passo que, a leitura, um diálogo abstrato e atemporal entre leitores e escritores. O livro conseguiu aumentar a memória do homem, em séculos, milênios – o analfabeto, diz o autor, vive uma vida apenas, enquanto que o leitor vive diversas.
“Como é belo um livro que foi pensado para ser tomado nas mãos, até na cama, até num barco, até onde não existem tomadas elétricas, até onde e quando qualquer bateria se descarregou, e suporta marcadores e cantos dobrados, e pode se derrubado no chão ou abandonado sobre o peito ou sobre os joelhos quando a gente cai no sono, e fica no bolso, e se consome, registra a intensidade, a assiduidade ou a regularidade das nossas leituras e nos recorda (se parecer muito fresco ou intonso) que ainda não o lemos…”
A edição brasileira, da editora Record, foi traduzida por Joana Angélica D’Ávila.
“A pesquisa dos textos sagrados sejam eles Marx ou Mao, Guevara ou Rosa Luxemburgo tem antes de mais nada a seguinte função: restabelecer uma base de discurso comum, um corpo de autoridades reconhecíveis sobre as quais instaurar o jogo das diferenças e das propostas em conflito. Tudo isso com uma humildade completamente medieval e exatamente oposta ao espírito moderno, burguês e renascentista; não tem mais importância a personalidade de quem propõe, e a proposta não deve passar como descoberta individual, mas como fruto de uma decisão coletiva, sempre e rigorosamente anônima. Desse modo uma reunião em assembléia se desenvolve como uma questio disputata: a qual dava ao forasteiro a impressão de um jogo monótono e bizantino, enquanto nela eram debatidos não só os grandes problemas do destino do homem, mas as questões concernentes à propriedade. à distribuição da riqueza, às relações com Príncipe, ou à natureza dos corpos terrestres em movimento e dos corpos celestes imóveis”.
Estes ensaios dedicam-se a pesquisas filosóficas e semióticas sobre nosso cotidiano. Para Eco, a semiologia é uma chave mestra para abordar todas as questões como aspectos de uma grande questão, a comunicação. Sob ela, a imbricação entre linguagem, objetos, representação.
Sob o ponto de vista da semiologia, tudo é comunicação e, dos rituais e identificações com orixás do candomblé, à ecologia, passando pela deteriorização dos meios de comunicação ou pelos problemas de segurança, a descoberta das mensagens é para eleuma aventura intelectual por entre o ilusoriamente verdadeiro.
A ironia da “cópia autêntica” é investigada ao longo da primeira parte do livro, intitulada “Viagem pela hiper-realidade” à guisa de uma viagem pela costa Oeste dos Estados Unidos, visitando museus e mostrando o quanto há de “falsidade” no mundo contemporâneo, em geral, na cultura americana, em particular. Eco perpassa analiticamente exemplos variados: as reproduções, em museus, de obras primas cujos originais encontram-se em outras partes do mundo; as construções de réplicas arquitetônicas, como o castelo construído na Califórnia com peças numeradas vindas da Europa e cujos cômodos foram preenchidos com cópias de pinturas e objetos; uma estátua de cobre na Grécia, que é cópia da “cópia autêntica” romana – cujo original com o tempo já se perdeu; a artificialidade da Disneylândia, cujas filas ele compara às do gado no corredor de abate; a transmissão manipulada das notícias pelo formato variado e efêmero dos telejornais.
O livro é dividido em mais cinco partes: “A nova Idade Média”, “Os deuses do subsolo”, “Crônicas da aldeia global”, “Ler as coisas”, “De consolatione philosophiae”. Um dos ensaios deste último capítulo, “A língua, o poder, a força”, é um diálogo de Eco com Barthes e com Foucault, em que discute a língua como dispositivos de poder e tece uma crítica ao falso e à cópia, que se revestem em linguagem.
Na segunda parte, “A nova Idade Média”, Eco analisa o quanto é entranhada a noção de cópia à formação de valores, estéticos e morais e encontra a origem da questão no pensamento medieval e na noção de relíquia, cuja estrutura pende sobre a relação em torno do original. Nossa época seria uma nova Idade Média, diz: “Dessa nova Idade Média já se disse que será uma época de ‘transição permanente’ na qual serão adotados novos métodos de adaptação: o problema não será tanto o de conservar cientificamente o passado quanto o de elaborar hipóteses sobre o aproveitamento da desordem, entrando na lógica da conflitualidade. Nascerá, como já está nascendo, uma cultura da readaptação contínua, nutrida de utopia. Foi assim que o homem medieval inventou a universidade, com a mesma desinibição com que os clérigos vagantes de hoje a estão destruindo: e talvez transformando. A Idade Média conservou a seu modo a herança do passado não para hibernação, mas para contínua retradução e reutilização, foi uma imensa operação de bricolage em equilíbrio instável entre nostalgia, esperança e desespero”.
A Idade Média seria, para o autor, espécie de texto histórico, subjacente à própria realidade semântica do mundo, à própria irrealidade cotidiana. Segundo ele, “foi ali que amadureceu o homem ocidental moderno, e é nesse sentido que o modelo de uma Idade Média pode servir para compreender o que está acontecendo nos nossos dias”. Para Eco, nada “é mais semelhante a um mosteiro perdido no campo, cercado e rodeado por hordas bárbaras e estranhas, habitado por monges que nada têm a ver com o mundo e desenvolvem suas pesquisas particulares) que um campus universitário norte-americano”. Sua comparação prossegue: “a outra Idade Média produziu no fim um Renascimento que se divertia em fazer arqueologia, mas de fato a Idade Média não fez obra de conservação sistemática, mas sim de destruição casual e conservação desordenada”. A nossa época, nova Idade Média, é marcada pela transição permanente. O maior problema dela é “elaborar hipóteses sobre o aproveitamento da desordem, entrando na lógica da conflitualidade”, de que nascerá, diz, “uma cultura de readaptação contida, nutrida de utopia”.
Publicada pela Nova Fronteira em 1984, a edição brasileira foi traduzida por Aurora Bernardini e Homero Freitas Andrade. Há um exemplar na biblioteca Tapera Taperá.
O pensamento de Umberto Eco ficou conhecido por expressar, mais do que qualquer outro, o movimento de desprovincialização da cultura que avassalou a segunda metade do século XX, do qual Obra aberta – Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas é teórico emblemático. Para o autor, a obra literária, e mesmo o texto não literário, abre-se à participação do leitor; a leitura, pois, não é um ato de simples absorção de palavras, é um processo vivo, a partir do qual a interpretação do conjunto da obra varia, de acordo com as sutilezas de diferenças de percepção. Há, portanto, uma relação de diálogo entre o leitor e a obra.
Publicado originalmente em 1962, o livro estabelece, assim, que a obra de arte é aberta por não ser restrita a apenas uma interpretação. Seu conceito de “obra aberta”, adverte, não é uma categoria crítica, mas um modelo teórico para pensar a arte contemporânea e seu modo de ser, baseado no princípio fenomenológico da intencionalidade.
Eco, em 1968, escreveu, na introdução à primeira edição brasileira: “vivemos num período de evolução acelerada: e a única palavra que a deve proferir para poder defini-lo será uma palavra de recusa das definições estáticas e catedráticas. […] ao escrever Obra aberta pareceu-me que a teoria da informação propunha uma chave boa para todos os usos, também no campo das ciências humanas; hoje acho […] que ela precisa ser integrada numa perspectiva semiológica mais ampla”.
Segundo a doutora em letras Marcia Lisbôa Costa De Oliveira, em artigo: “Se neste primeiro livro já se destaca a participação do leitor na determinação do(s) sentido(s) da obra, também aí já se encontram discussões sobre os limites de sua intervenção. Na introdução à segunda edição brasileira da Obra Aberta, Eco sintetiza sua concepção do objeto de suas pesquisas: ‘A obra de arte é uma mensagem fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de significados que convivem num só significante’”. De acordo com Oliveira, “Eco entende que a formulação conceitual da ‘obra aberta’ representa um modelo hipotético que pode ser aplicado a obras concretas, as quais apresentam similaridades estruturais, embora sejam extremamente diversas em outros planos. Ou seja, o modelo da obra aberta não reproduz a estrutura objetiva das obras, mas a estrutura de uma relação fruitiva”.
Uma obra de arte, dessa maneira, só é apreensível na medida em que aquele que a recebe é capaz de “a reinventar num ato de congenialidade com o autor”, como diz o autor.
A tese do filólogo italiano, grosso modo, baseia-se na ideia da obra de arte como inacabada, de modo que exige de seus receptores uma participação ativa, uma percepção peculiar entre inúmeras possibilidades interpretativas. É decorrente a investigação do prazer estético proveniente do embate com uma obra ambígua, que concede a seu receptor a livre ressignificação contínua.
A mensagem estética e a interpretação sígnica encontram-se na obra aberta. Eco discute com ideias de autores como Roman Jacobson, Paul Ricoeur, Merleau-Ponty, Alain Robbe-Grillet, Saussure e Benedetto Croce, entre outros. O livro, intensamente preocupado com os problemas acerca da comunicação, discute também textos literários, como Ulysses, A Divina Comédia, I promessi sposi de Alessandro Manzoni. Trata dos problemas da percepção e da transmissão poética, dos encontros entre o discurso poético e o discurso musical, da obra por fim como metáfora epistemológica.
A abertura da obra leva Eco também à reflexão sobre o parentesco entre o discurso poético e o musical, e a identificar, na música, a abertura da obra por execelência.
Umberto Eco, em 1980, publicou seu primeiro romance, o célebre O nome da rosa – vencedor do Prêmio Strega em 1981. Segundo o autor, o livro foi escrito para colocar em prática as teorias desenvolvidas em seu Lector in fabula – A Cooperação Interpretativa nos Textos Narrativos [1979], uma vez que o trabalho investigativo levado a cabo pela personagem Guilherme de Baskerville no romance, seria análogo ao trabalho do leitor na interpretação da obra. O romance, escrito através da ramificação de diversos fios-condutores, deixaria a cargo de um leitor-modelo seguir as indicações subliminares deixadas pelo autor, para a decriptação da obra.
O livro cria uma metalinguagem em torno do problema dos universais. Por entre a relação entre a ideia, a realidade material, o conceito, Umberto Eco, insere-se no debate entre realismo e nominalismo na filosofia medieval. Com seu protagonista, utiliza o nominalismo para investigar uma série de crimes misteriosos cometidos em uma abadia medieval. Por meio dessa investigação, adentra as contradições presentes na representação, na palavra e no texto escrito.
Na introdução à obra, o autor conta ter encontrado um manuscrito com as memórias de um monge beneditino, Adso de Melk, que contara, à beira da morte, uma história misteriosa acontecida em sua juventude: em 1327, durante uma viagem pela Itália setentrional, o então noviço Adso, com seu mestre, o frade franciscano inglês Guilherme de Baskerville, chegara a uma rica abadia beneditina, localizada sobre a Costa Lígure e possuidora da maior biblioteca do mundo cristão, a cuja riqueza alude o título do romance – “o nome da rosa” era uma expressão medieval para referir-se ao infinito poder das palavras. Frei Guilherme, embaixador especial do Imperador, tinha uma complexa missão a cumprir, deveria organizar um encontro, na abadia, entre uma delegação do Papa e os Minoritas, liderados pelo frade teólogo Michele de Cesena, suspeitos de heresia. Ali, em meio a intensos debates religiosos, Guilherme e seu ajudante Adso acabaram por envolver-se na investigação da insólita morte de sete monges, em sete dias e sete noites, acontecidas sob o modelo apocalíptico do apóstolo João. Instigado pela pesquisa, Guilherme recolhe indícios, decifra escritos misteriosos, descobre a engenhosa biblioteca em forma de labirinto, adentra os mistérios da abadia. Pouco a pouco, a descoberta do assassino passa a ocupar-lhe muito mais do que a disputa entre o imperador e o Papa. Porém, quando desvenda o criminoso, descobre que ele não passara de mais uma vítima. O verdadeiro culpado, em última análise, é um livro imaginário, o Segundo Livro da Poética de Aristóteles, obra dedicada ao cômico, protegida no meio da biblioteca pelo ex-bibliotecário, o espanhol cego Jorge de Burgos.
Para o pesquisador Paulo Fernando Zaganin Rosa, conforme diz no artigo “Um estudo sobre as formas de digressão em O nome da rosa de Umberto Eco”, o autor italiano, com a publicação de O nome da rosa, teve a intenção de “sobretudo fornecer uma demonstração da eficiência das tantas teorias sobre o romance, entendido como arte da combinação, que os formalistas russos, os estruturalistas, os neovanguardistas, os barthesianos e outros elaboraram nas últimas décadas. Disso surgiu uma mistura prestigiosa em que erudição e cultura, senso de atualidade e sabedoria do passado, ciência e doutrina, teoria e praxe misturaram-se sem deixar resíduos, e deram vida a uma construção que, pela modernidade das técnicas usadas, pela novidade dos materiais empregados e pelo sucesso dos resultados obtidos, representou o ponto mais alto, o produto mais bem acabado e brilhante da cultura literária pós-moderna na Itália. Umberto Eco recorreu em toda a obra à utilização da técnica do encaixe como forma de organização do conhecimento. A reconhecida emblematicidade do romance, escrito quase por jogo, confirma a pluralidade de estilos e a habilidade que o autor tem de praticá-los sobre chaves e registros diferentes. Umberto Eco discute em sua obra grandes temas da filosofia européia, e observa que o universo é provido por signos que deveriam nos orientar, mas que, na verdade, nos desorientam; que a aspiração à verdade plena não passa de uma ilusão e, principalmente, que o conhecimento sem alegria torna-se uma banalidade”.
De acordo com o jornalista e crítica Marcelo Coelho, em artigo escrito para o jornal Folha de São Paulo, “Umberto Eco foi bem pós-moderno. Em ‘O Nome da Rosa’, livro de ficção que o fez mundialmente conhecido, investiu num tipo de literatura que, bem ao gosto da moda intelectual dos anos 1980, joga em dois campos simultaneamente. É um romance de entretenimento, mas ao mesmo tempo cheio de piscadinhas de olhos para o leitor mais erudito. Não se trata de ficar no meio de campo entre ‘alta’ e ‘baixa’ cultura, mas de produzir (com resultados a meu ver insatisfatórios) um produto híbrido, uma ilusão de ótica, que muda de aparência conforme visto de longe ou de perto”.
Como pontua Pepe Escobar, no artigo supracitado, a última frase do romance é “stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus“, ou seja, “a rosa que houve agora existe só em nome, só temos nomes nus”. De acordo com Escobar, é a variação de um verso de De Contemptu Mundi, de Bernard de Cluny, monge beneditino do século XII.
A ilha do dia anterior é também um romance que adentra o passado histórico. Seu texto, atravessado por citações eruditas de filósofos, artistas e cientistas, não é, contudo, hermético, graças à sua forma aventuresca.
Se os ambientes em O nome da Rosa e O pêndulo de Foucault, eram mosteiros, museus e bibliotecas, aqui Umberto Eco retrata a exuberância da natureza das ilhas Fidji. Trata-se do cenário no qual acompanhamos um jovem piemontês da pequena nobreza de Monteferrato, que, durante uma missão secreta a serviço do cardeal Mazarino, tem seu navio Amarillis naufragado por uma forte tempestade nos mares do Sul. O jovem, Roberto de la Grive, depois de dias sobre uma tábua salvadora, esbarra no Daphne, um outro navio, deserto, mas repleto de objetos antigos, metais, obras de arte. Ali, tem início uma lenta viagem de volta aos anos seiscentos da nova ciência, da Guerra dos Trinta Anos, de um cosmos em que a Terra não é mais o centro do universo.
Segundo o crítico Manuel da Costa Pinto, em resenha publicada pelo jornal Folha de São Paulo em janeiro de 1995: “Se ‘O Nome da Rosa’ problematizava, desde o título, a querela entre o nominalismo e o realismo na filosofia medieval, ‘A Ilha do Dia Anterior’ metaforiza em larga medida o surgimento da ciência moderna através do espírito classificatório do século 17”. Dessa maneira, diz o crítico, ao longo do livro, “nas memórias de Roberto se estabelece uma oposição entre o método fantasioso de criar relações entre os objetos (como no ‘telescópio aristotélico’ do padre Emanuele, uma engenhoca que cria metáforas aleatórias para as coisas) e uma epistemologia que recobre estes mesmos objetos com a universalidade da razão (caso, precisamente, da cartografia)”. Eco, com a representação destas diversas formas de conhecimento, “faz uso de imagens que lembram as ‘epistemes’ (formas de apropriação da realidade pela linguagem das ciências) descritas em ‘As Palavras e as Coisas’ pelo filósofo Michel Foucault (e que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com ‘O Pêndulo de Foucault’)”.
Em A ilha do dia anterior, Eco investiga as nuances da recepção, o que antes fizera teoricamente com Lector in fabula – A cooperação interpretativa nos textos narrativos. A ilha, não-lugar, é caracterizada por haver, nela, noite e dia concomitantes. A ilha é um universo aberto.
O livro foi publicado no Brasil pela editora Record, com tradução de Marco Lucchesi, em 1995.
Uma estética das listas é o que faz aqui Umberto Eco, ao refletir sobre como a ideia dos catálogos, enumerações e inventários mudou ao longo dos séculos e como, de um período para outro, essa mudança foi expressa por meio da literatura e das artes visuais. Esse ensaio é acompanhado de uma antologia literária e de uma extensa seleção de obras de arte, que ilustram como a sociedade se define por suas listas e limitações.
As listas são princípios de realizações, legitimações, ordenação, estrutura. Uma lista confere história, na vertiginosa sucessão de acontecimentos.
Segundo Eco, as listas permeam a literatura e as artes plásticas, pois ambas documentam a forma de organização dos homens e de seus pertences, desde o catálogo dos navios da Ilíada. Eco encontra seu melhor exemplo na riqueza de detalhes de cenas que abriga o escudo de Aquiles, de Hefaísto. “A representação”, diz Eco, “não se refere apenas ao espaço, mas também ao tempo, uma vez que todos esses acontecimentos se sucedem, como se o escudo fosse uma tela ou uma longa história em quadrinhos”.
O crítico Kelvin Falcão Klein, no artigo “Umberto Eco e a vertigem das listas”, pontua que Eco, na introadução ao livro, “relembra o momento em que foi procurado pelo Museu do Louvre e convidado a estabelecer um tema para uma série de eventos culturais. Seriam conferências, leituras, concertos, exibições de filmes, todas as atividades reunidas em torno do tema que Eco foi convidado a escolher. O professor italiano conta que não hesitou e propôs o tema da lista, bem como o desdobramento possível da enumeração e da catalogação – temas que, afirma Eco, já estavam presentes tanto em sua ficção (livros como O nome da rosa e O pêndulo de Foucault) quanto na obra de artistas e escritores que sempre admirou, como James Joyce, Homero e os autores dos textos medievais que estudou na juventude”. Para Klein, desde o início, “o livro de Eco sobre as listas se revela um documento acerca do infinito e da possibilidade de inesgotável multiplicação dos elementos da cultura humana”. O crítico aponta que ao longo de todo o livro “o elemento que mais se destaca, tanto nos textos quanto nas imagens, é a dialética que se estabelece entre o esforço de enumeração e a impossibilidade de abarcar todos os elementos. Ou seja, textos e imagens estão unidos na tarefa de dar conta de uma enumeração que se anuncia infinita, e que por isso mesmo precisa ser feita. Mais do que apreender a totalidade, a seleção de obras artísticas feita por Umberto Eco procura indicar que, quando se trata de uma lista, catálogo ou inventário, há sempre um resto, um excedente, que permanece sempre alhures”. É a partir de Borges e Foucault, diz Klein, que Eco “arma uma visualização da proliferação contemporânea de textos e imagens. Ao contrário do que os dispositivos midiáticos contemporâneos fazem supor, essa proliferação não eclodiu espontaneamente, nem formou-se do nada. Um dos principais méritos do livro de Eco é dissecar o longo caminho que desembocou no atual contexto imagético da cultura ocidental. Partindo de Homero, Hesíodo e Cervantes até chegar em Thomas Pynchon, Georges Perec e Jorge Luis Borges, ou ainda, no caso das imagens, partindo das pinturas egípcias até chegar em Damien Hirst, Eco demonstra que a situação contemporânea é uma situação entre muitas – e que está à mercê, portanto, da duração de suas próprias forças de sustenção”.
A gigantesca erudição de Umberto Eco jamais foi impedimento para a extensão de sua reflexão em direção midiática. Cultura e crítica, sob sua pena intercambiaram-se de maneira orgânica.
Deixamos de fora desta lista alguns livros que são bons representantes da plurivocidade de suas análises, como suas histórias da beleza e da feiúra, ou os simpáticos Confissões de um jovem romancista ou Como se faz uma tese, para ficarmos em apenas alguns exemplos.
Os lapsos são incontornáveis dada a vastidão de sua obra. Seus escritos ecoarão por entre estudiosos de comunicação, de estética, de semiótica, de filosofia medieval, de história da cultura e por entre amantes da literatura.
 Send to Kindle
Send to Kindle