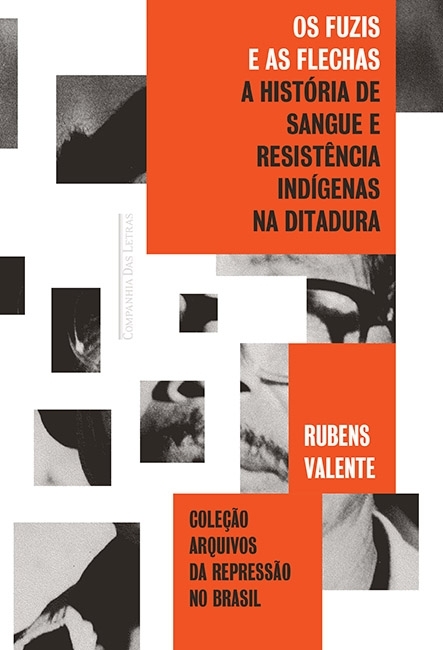Abertura da Transamazônica em 1970
Os fuzis e as flechas, do jornalista Rubens Valente, é uma investigação jornalística acerca de centenas de mortes de indígenas durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985). Para compor os dados e histórias apresentados, o autor entrevistou oitenta pessoas, entre índios, sertanistas, missionários e indigenistas, percorreu 14 mil quilômetros de carro, esteve em dez estados e dez aldeias indígenas do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais; também recorreu a milhares de páginas coletadas em arquivos de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Como resultado da vasta pesquisa, que durou dez anos, o livro, que acaba se ser publicado pela Companhia das Letras, traz à tona registros inéditos de erros e omissões que levaram a tragédias e extermínio de tribos inteiras.
Um dos casos emblemáticos foi a obra de construção da rodovia Transamazônica, a BR-174, que ligaria Manaus a Boa Vista e Roraima. A obra foi iniciada em 1968 e durou até 1976; em 1974, houve um grande embate entre os índios e as frentes de atração da FUNAI; o exército foi então enviado, com homens e fuzis que compunham a Infantaria de Selva, para “garantir” a construção: neste caso, toda a etnia waimiri-atroari foi dizimada.
Porém, o número de índios mortos é absurdamente impreciso, pois não havia um recenseamento das tribos. As estimativas variam de 300 a 2000 mortos. A imprecisão, era deliberada, parte do programa da censura, para evitar a conscientização da população.
O livro faz parte da coleção Arquivos da Repressão no Brasil, organizada pela historiadora Heloisa M. Starling – professora da Universidade Federal de Minas Gerais, é coautora, com Lilia Moritz Schwarcz, de Brasil: uma biografia. No texto “Sobre os silêncios da ditadura militar”, em que apresenta a coleção, Starling analisa: “Nos quase trinta anos que nos separam do fim da ditadura, jornalistas e historiadores desempenharam papel importante nos procedimentos de redemocratização do país. As reportagens sobre corrupção, mordomias e sobre os desaparecimentos, assassinatos e tortura de opositores políticos durante o governo dos militares, de um lado, e a extensa literatura historiográfica produzida sobre o período, de outro, provocaram a memória do país sobre sua história recente. E contribuíram para que essa memória sobre a ordem política gerada pela ditadura e sobre os crimes cometidos pela ditadura seja encarada como uma necessidade jurídica, moral e política, necessária para a consolidação de nossa experiência democrática.
A coleção Arquivos da Repressão no Brasil guarda um pouco dessa história e conserva muito desse espírito. É uma coleção aberta a todos interessados em envolver-se com os desafios de nosso passado recente — seus debates, seus não ditos, os impasses aos quais eles nos conduzem e as evidências em que estão apoiados. Afinal, são muitos os silêncios que organizam a memória do Brasil sobre os anos da ditadura militar. Permanece o silêncio sobre o apoio da sociedade brasileira e, acima de tudo, sobre o papel dos empresários dispostos a participar na gênese da ditadura e na sustentação e financiamento de uma estrutura repressiva muito ampla que materializou sob a forma de política de Estado atos de tortura, assassinato, desaparecimento e seqüestro. Também existe silêncio sobre as práticas de violência cometidas pelo Estado contra a população e direcionadas para grupos e comunidades específicos — especialmente as violências cometidas contra camponeses e povos indígenas. Continua até hoje o silêncio em torno da construção e do funcionamento da complexa estrutura de informação e repressão que deu autonomia aos torturadores; prevaleceu, em muitos casos, sobre as linhas de comando convencionais das Forças Armadas; utilizou do extermínio como último recurso de repressão política; alimentou a corrupção; produziu uma burocracia da violência; fez da tortura uma política de Estado. E ainda sabemos muito pouco sobre a repressão aos militares que não apoiaram o golpe, sobre as condições de clandestinidade, ou sobre a vida no exílio dos opositores políticos da ditadura. […] Se o tempo presente é nosso principal desafio, se temos hoje uma Democracia consolidada – mas uma República frágil e inconclusa — e se precisamos nos aparelhar para o futuro, conhecer o passado é uma das boas maneiras de se chegar a ele”.
Segundo Starling, a questão das mortes indígenas durante a ditadura militar no Brasil é um dos silêncios mais eloquentes e densos da época. Não há publicações sobre o projeto de ocupação nacional e a consequente morte das populações indígenas.
Uma das ideias interessantes da coleção Arquivos da Repressão no Brasil é a junção de olhares entre o historiador e o jornalista. Segundo Starling, são dois ofícios que contam a história do Brasil, enfrentam os silêncios, que trabalham de maneira diferente, mas complementar.
Rubens Valente nasceu em Goioerê (PR), em 1970. Jornalista da Folha de S.Paulo desde 2000, fez reportagens em mais de trinta terras indígenas, principalmente nos anos 1990. Desde 2010 é repórter do jornal na sucursal de Brasília. É autor também de Operação banqueiro [Geração Editorial, 2014], sobre como, incrivelmente, o banqueiro Daniel Dantas escapou da prisão com apoio do Supremo Tribunal Federal e ainda passou de acusado a acusador.
_____________
.trecho.
Antonio Cotrim Soares seria das pessoas mais improváveis a trabalhar para o governo dos militares que haviam deposto João Goulart. Em 1964, ele era um jovem estudante de Maceió envolvido com a organização das Ligas Camponesas, grupos de trabalhadores rurais que levaram o tema da reforma agrária à agenda política nacional. Embora filho de um bem situado comerciante local e sem filiação partidária, dizia ter “ideias socialistas, de esquerda” e se sentia “ligado com os caras do Partido Comunista”. Ajudava a planejar uma grande invasão “de mais de 60 fazendas” de um rico proprietário de usinas de açúcar, o deputado federal e homem de televisão Rubens Berardo Carneiro da Cunha. As Ligas infiltraram peões remunerados nas fazendas para “conversar com as pessoas e montar as bases”. Cotrim algumas vezes também serviu de motorista do líder Francisco Julião quando este apareceu em Maceió. Nada mais distante, portanto, das fardas e botas que marcharam sobre Brasília.
Com o golpe, os ambiciosos planos de Cotrim e seus aliados ruíram. Ele se escondeu num apartamento até a poeira baixar e o pessoal das Ligas se dispersar. Reunidos semanas depois, falaram em organizar luta armada e resistir. Cotrim não gostou da conversa, achou que estavam todos desorientados. Chegou-lhe a informação de que um grupo de peruanos estava organizando guerrilhas perto da fronteira com o Brasil.
Decidiu rumar para lá para se juntar aos guerrilheiros. Sua ideia era seguir em caronas de avião, mas só conseguiu chegar até Belém. Lá, descobriu que seu contato na cidade, um trotskista, estava desaparecido desde o golpe. Sem dinheiro para pagar a pensão em que se enfiou, Cotrim desistiu do Peru e começou a procurar emprego para sobreviver. Viu num jornal o anúncio de que um certo Serviço de Proteção aos Índios estava procurando pessoal para trabalhar. Cotrim foi ao endereço indicado para saber o que era e o que fazia aquele SPI. Afinal de contas, ele nunca havia visto um índio na vida.
No escritório local do SPI, Cotrim conheceu os sertanistas Telésforo Martins Fontes e seu filho, Osmundo Antônio dos Anjos. Osmundo contou-lhe que iria comandar uma expedição para contatar índios “hostis” na região de Porto de Moz, no Pará, na beira do rio Xingu e perto da divisa com o Amapá, que estavam em conflito com moradores locais. Ali viviam grupos de indígenas conhecidos como kararaôs.
Tratava-se de um subgrupo da etnia kayapó, que protagonizava choques em outra área do Estado. Em uma entrevista concedida nos anos 1970, o sertanista Francisco Meireles diria que em 1964 os caiapós da região de Altamira “eram considerados terríveis pela população”. Eram “índios perigosos, matavam os civilizados e aprisionavam as mulheres e, inclusive, várias moças foram raptadas tão cedo que acabaram por se integrar na vida da tribo. Quando lá cheguei eles tinham matado 17 seringueiros”.
Cotrim ouviu que “o SPI não tinha dinheiro e que o governador do Pará, Jarbas Passarinho, ia financiar a expedição”. Em junho de 1964, a ditadura havia derrubado o governador do Estado, Aurélio do Carmo, e empossado em seu lugar o então tenente-coronel Passarinho.
Telésforo explicou que a expedição era pobre e estava com dificuldades para pagar salários. O alagoano aceitou ser um “voluntário”, sem remuneração. Telésforo aprovou a ideia, pois viu que Cotrim, além de saber datilografia, também gostava do escritor Jorge Amado, seu conterrâneo. Ele queria que, na viagem, o jovem aproveitasse para ensinar ao seu filho quem era o grande romancista baiano.
Cotrim tinha um problema: não podia sair da pensão sem pagar os 15 dias de hospedagem que devia. Suas posses se resumiam a um saco de viagem, duas mudas de roupa e alguns livros. Para resolver o problema, o pessoal do SPI simulou a prisão dele. O escritório por acaso tinha uma Rural, o mesmo modelo de carro usado pela polícia. Conforme combinado, o motorista parou o carro na frente da pensão e gritou para a dona do local que o hóspede estava preso e tinha que sair com todos os seus pertences imediatamente. Ordem cumprida, dali seguiram direto para o porto, de onde sairia a expedição de barco. Partiram Osmundo, Cotrim, o sertanista Afonso Alves da Cruz, que se tornaria um dos mais conhecidos na história da Funai, o índio xikrin Itakaiúna e um telegrafista.
O método adotado pela expedição era o mesmo das outras feitas no país desde os tempos do marechal Cândido Rondon (1865-1958). Criava-se uma frente de atração, que funcionava assim: os sertanistas distribuíam presentes aos índios; esperava-se que estes passassem a retribuir os presentes, na fase chamada de namoro; na terceira fase, os índios convidavam os sertanistas para conhecer suas malocas; a quarta fase, de consolidação de “pacificação”, constituía-se no estabelecimento de um acordo pelo qual, em resumo, “civilizados” e índios concordavam em não matar mais uns aos outros (muitas vezes esse diálogo não era feito às claras, pois os índios praticamente se entregavam aos benefícios representados pelos presentes dos “civilizados” do SPI); por último, os índios “pacificados” eram então agregados e entregues aos cuidados de funcionários de um posto, que se encarregavam de dar a eles atendimento de saúde e alimentação e ensinar-lhes métodos de agricultura dos “civilizados”. Assim, os índios deixariam de atacar e matar vizinhos ou trabalhadores que passavam pela região. Estava criado um novo posto indígena para índios aldeados.
Na margem do Guajará, um afluente do rio Tapajós, a expedição encontrou um grupo de kararaôs, que os recebeu sem hostilidade. A denominação kararaô “é aplicada a uma divisão dos kayapó setentrionais” que se distanciou do núcleo principal da etnia, conhecido como gorotire. No século passado, os kararaôs desceram o rio Xingu e se detiveram entre o Iriri e seu afluente Curuá. Depois cindiram-se em dois grupos, um dos quais “por volta de 1950, foi quase dizimado” por uma expedição organizada por um seringalista. Os kararaôs pouco falavam o português, usavam arcos, flechas e bordunas e pintavam o corpo com jenipapo, carvão e urucum misturado com óleo de babaçu. Os homens adultos usavam um batoque de madeira no lábio inferior.
O contato dos índios com a expedição da qual Cotrim participava ocorreu no ano de 1965, sendo assim o primeiro do gênero do regime militar. Sua consequência foi dramática.
Quase cinquenta anos depois, em 2013, Cotrim, nascido em março de 1941, continuava um homem de excelente saúde, com um aperto de mão vigoroso e memória perfeita. É um homem formal e detalhista. Ele ainda usa uma máquina de escrever para se comunicar à distância. Ao responder ao pedido de entrevista para este livro, datilografou a resposta e pediu à filha que fotografasse a folha de papel e a enviasse anexada a um e-mail. Na lanchonete de um hotel em Maceió, Cotrim descreveu os eventos com uma franqueza notável, que outros entrevistados poderiam dispensar. Ao contrário do que se poderia esperar de alguém que viveu tantos perigos, ele não oferece a visão romantizada das aventuras na selva, mas sim a descrição amarga e crua de fatos que continuam a assombrá-lo, tantos anos mais tarde. Ele se recordou da primeira tragédia que presenciou em sua agitada vida de sertanista. E logo na primeira missão. “Eram 48 índios kararaôs, fizemos contato. Morreram quase todos. Esse grupo desapareceu. Se teve sobreviventes, foram quatro ou cinco. Foi a primeira experiência que tive.”
“Mas morreram como?”, eu quis saber.
“De gripe! Não foi levado medicamento.”
Para Cotrim, o transmissor involuntário da doença foi um membro da expedição, Itakaiúna, que estava com gripe “no momento do contato”. Ele tem certeza de que não existia doença entre aqueles índios antes da chegada da expedição. Assim que houve o contato, Osmundo regressou a Belém para obter medicamentos e alimentação. Passados mais de 20 dias, quando regressou ao local, não havia mais como socorrer os índios. “Telésforo não estava mais em Belém. Belém não mandou mais nada, o dinheiro da expedição tinha acabado. Era aquela esculhambação, não enviaram remédio. Deixaram a operação abandonada.” O SPI chegou a mandar um enfermeiro, mas na percepção de Cotrim isso pode ter agravado o problema, pois ele “pegava a agulha e não esterilizava direito, então a própria agulha [contaminava]”.
A crise sanitária se agravou com a falta de comida. Os kararaôs não tinham reservas de alimentos e, debilitados, não conseguiram mais caçar, pescar e nem mesmo pegar madeira seca no mato para fazer fogo. Cotrim viu um índio quebrar seus próprios arcos e flechas para fazer uma fogueira.
Muitos índios, doentes, se embrenharam na mata, o que só piorou a situação. Pela superstição deles, o problema estava naquele local, não em seus corpos, então a decisão mais correta, acreditavam, era se afastar do acampamento. Distantes da expedição, não receberam os poucos medicamentos disponíveis. Cotrim ajudou a enterrar “quatro ou seis corpos”, o restante ficou espalhado pela mata e foi sepultado depois ou pelos próprios índios ou pelos companheiros da expedição. Ele estimou 40 mortos na epidemia.
O pessoal da expedição ficou com medo de uma retaliação, pois o índio xikrin foi flagrado explicando aos índios que os “civilizados” é que haviam levado a doença. Mas os kararaôs não tinham mais nem força física para uma vingança, segundo Cotrim. Com pouco mais de 24 anos na época, ele disse não imaginar que aquilo poderia acontecer de forma tão rápida e pediu explicações ao sertanista Afonso Cruz. O mais experiente procurou acalmá-lo. “O Afonsinho me disse: ‘Isso aqui é comum. No contato tal morreram tantos, lá em tal lugar também morreu’.”
[Trecho divulgado pelo caderno “Ilustríssima”, do jornal Folha de S. Paulo]
_____________
OS FUZIS E AS FLECHAS – A HISTÓRIA DE SANGUE E RESISTÊNCIA INDÍGENAS NA DITADURA
Autor: Rubens Valente
Editora: Companhia das Letras
Preço: R$ 52,43 (496 págs.)
 Send to Kindle
Send to Kindle