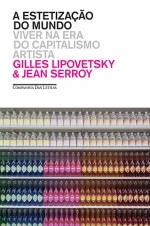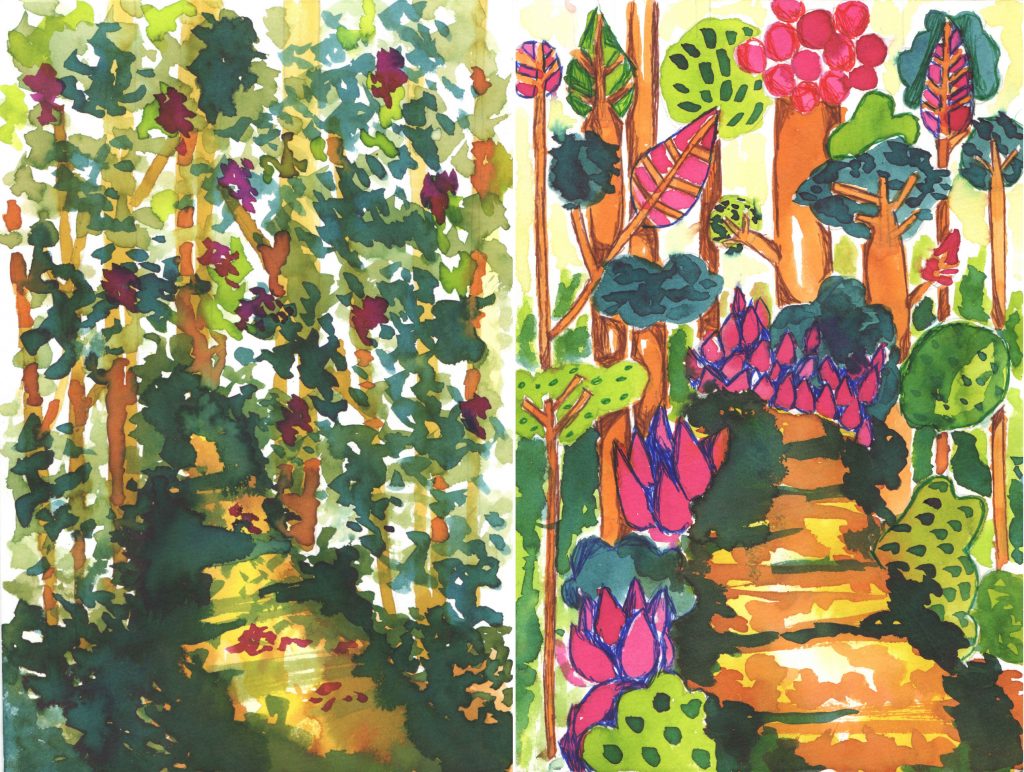A melancolia, diz Robert Burton, pode ser uma disposição, ou um hábito. Sua monumental Anatomia da melancolia trata da melancolia não enquanto disposição, seu sentido atualmente mais usual – como descontentamento, angústia, tristeza, depressão –, mas enquanto hábito, ou mesmo uma mania, um humor fixo, portanto dificilmente removível.
Publicada originalmente em 1621, esta é uma obra-prima, filosófica, psicológica, literária. Burton compilou todo o material então disponível para, a partir da melancolia, investigar e explicar todas as emoções humanas, bem como suas causas “psíquicas”.
A edição brasileira, publicada com a ótima tradução de Guilherme Gontijo Flores – tradução vencedora do prêmio Jabuti 2014 –, pela editora da UFPR, traz o texto em quatro tomos:
O primeiro volume intitula-se Demócrito Júnior ao leitor. Burton escreve, sob esse pseudônimo – homenagem ao “filósofo que ria”, de acordo com a descrição de Hipócrates –, este prefácio sarcástico.
O tradutor, Guilherme Gontijo Flores, no artigo “A anatomia no Brasil”, publicado na revista Anamorfose, explica: “A persona de Demócrito ajuda na construção de uma escrita constantemente irônica, com bases na obra de verve satírica do autor grego Luciano de Samósata e nas suas estruturas similares à fábula menipeia; além de uma persistente auto-derrisão que muitas vezes põe em cheque o que o próprio autor parece defender e acaba deixando o leitor desnorteado, ou, quem sabe, convidado a tomar parte no pensamento, a largar o comodismo do leitor passivo. O livro, como venho dizendo, é amplíssimo e abarca muitos autores, épocas e temas; várias partes, ainda que integradas na totalidade do livro, são praticamente ensaios separados (inclusive são traduzidos separadamente, vez por outra): “A digressão do ar” é um dos primeiros ensaios ocidentais sobre climatologia, “A melancolia religiosa” é o primeiro estudo detalhado sobre o assunto; seu estudo psicológico do sexo antecipa Havelock Ellis e Bernard Shaw; enquanto no prefácio encontramos uma Utopia burtoniana que se parece com a de Wells; seus comentários sobre ações contrárias à consciência podem elencá-lo num grupo de psicanalistas avant la lettre. Burton revela-se um sonoro economista político, protecionista, oponente dos monopólios, inimigo da guerra, defensor de melhores estradas, das irrigações terrestres, das construção de jardins, das pensões para os idosos, da sexualidade humana, do desejo feminino, etc. Resumindo: um livro assentado sobre livros, mas capaz de invocar o humano de quem o lê”. Continue lendo
 Send to Kindle
Send to Kindle

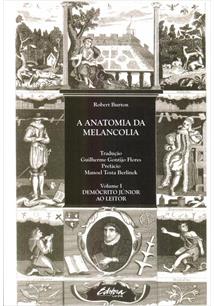



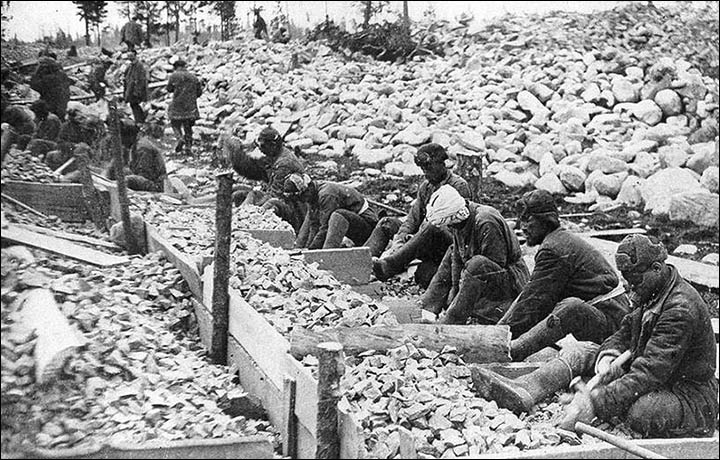
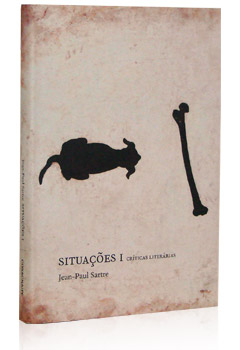


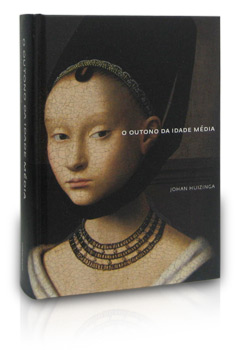
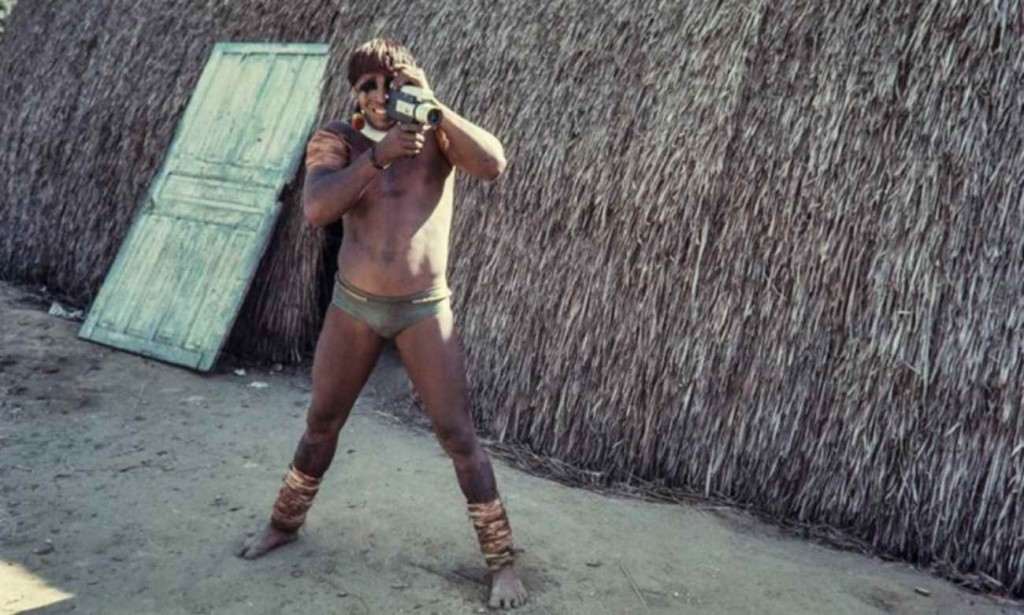
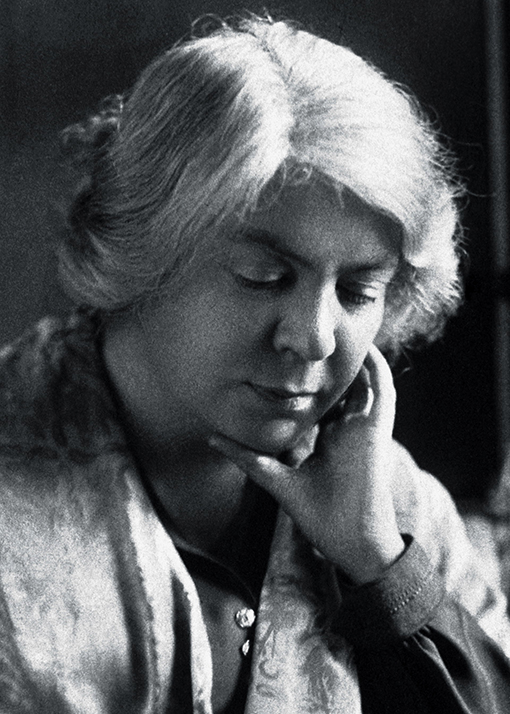
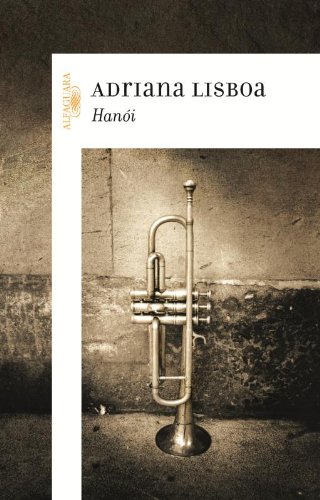
![Gravura da série "Ir" [2007], de Marco Buti](http://obenedito.com.br/wp-content/uploads/2015/09/buti.jpg)